A percepção de que a questão ambiental está no cerne da crise do capitalismo e o levantar de vozes do mainstream em favor de um novo sistema econômico tornam o momento mais do que propício para avançar a agenda da prosperidade sem crescimento
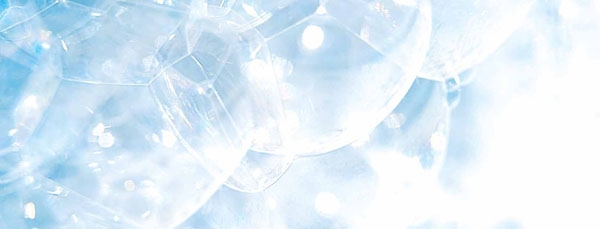
“Há sinais tentadores de boas notícias”, anunciou há algumas semanas a revista The Economist, templo do capitalismo-as-usual, citando mais empregos e consumo nos EUA, a recessão mais suave do que a esperada na Europa, o desenrolar sem obstáculos do default da Grécia e, claro, a volta das altas nos mercados financeiros. Tudo parece como dantes no quartel de Abrantes. Mas, pergunte a alguns observadores privilegiados, e eles dirão o contrário – até aí, nada de novo para quem segue o pensamento dos economistas ecológicos (histórico da cobertura de Página22 em “Vale a pena ler de novo“). A novidade é que desta vez são integrantes do mainstream econômico a apontar que a crise do capitalismo iniciada com o estouro da bolha financeira em 2008 não chegou ao final. E que mais crescimento, mesmo que “verde”, não dará conta do problema.
O fato de que gente como o economista e ex-diretor do Banco Central, André Lara Resende, o ministro alemão das finanças, Wolfgang Shäuble, e o guru corporativo de Harvard, Michael Porter, começa a alertar para a necessidade de um novo modelo que leve em conta os limites físicos do planeta indica que, se jamais houve momento propício para fazer avançar tal agenda, ele é agora.
“A crise atual reflete com fantástica precisão a crítica dos verdes”, diz Michael Jacobs, ex-assessor especial do ex-primeiro-ministro britânico Gordon Brown e professor visitante da University College London. “Este deveria ser o momento verde.” Dados mostram que a crise ambiental está finalmente afetando a economia real (quadro no final da página) e, por consequência, as dinâmicas sociais, com crescente insatisfação culminando em movimentos populares como o Occupy Wall Street.
Mas, enquanto o discurso de “crescimento verde” ganha espaço – por exemplo na agenda da Rio+20 –, os defensores de um modelo para a prosperidade sem crescimento permanecem quase que invisíveis no debate sobre as soluções para a crise do capitalismo. “Temos
que clarificar essa agenda e torná-la mais concreta e específica”, disse a Página22 o economista Peter Victor, autor do livro Managing Without Growth. “E temos que melhorar os esforços em fazer circular nossas ideias dentro e para além da comunidade acadêmica.” Victor e o economista britânico Tim Jackson trabalham no momento em um modelo que indique como a economia global pode fazer a transição para um novo paradigma, sem crescimento.
NOVOS ARAUTOS
As evidências e a lógica o convenceram da necessidade de limites ao crescimento para evitar uma catástrofe ambiental, disse o economista André Lara Resende a Página22. “Como não é mais possível negar os fatos, desconsiderar a questão é uma pura aposta na evolução tecnológica. Como a tecnologia, desde a Revolução Industrial, tem feito progressos absolutamente extraordinários, fomos levados a acreditar que ela será capaz de tudo resolver. Pode ser, mas no caso dos limites do planeta, perder a aposta tem consequências graves demais” (leia e entrevista na íntegra no nosso Blog).
A aposta a que Lara Resende se refere é a de que, usando a tecnologia, é possível criar infraestrutura e empregos “verdes” – com reduzido impacto ambiental – e continuar crescendo. O problema é que os ganhos de eficiência em geral são menores do que o aumento no volume total de atividade econômica – uma vez que o foco continua no crescimento – e, portanto, o impacto ambiental não diminui.
Em janeiro, Lara Resende publicou no jornal Valor Econômico o artigo “Os Novos Limites do Possível”, em que cita o livro The Great Disruption, do australiano Paul Gilding, como obrigatório para compreender por que o remédio keynesiano – aumentar os gastos públicos para voltar a crescer – pode ter deixado de fazer sentido diante dos limites físicos do planeta. “Peço uma trégua na impaciência dos que são imediatamente tomados de um misto de tédio e irritação ao pressentir a possibilidade de se defrontarem com mais uma catilinária sobre a defesa do meio ambiente”, escreveu, antes de argumentar em favor de “novos horizontes”.
Mais do que tédio e irritação, muita gente rejeita intransigentemente as evidências científicas que justificam a busca de novos modos de operar, porque tal busca significa o “reordenamento radical dos sistemas econômicos”, como diz a jornalista e autora canadense Naomi Klein.
“A abundância de pesquisas científicas mostrando que estamos testando os limites da natureza não demanda apenas produtos verdes e soluções de mercado”, escreveu ela no artigo “Climate vs. Capitalism”, publicado na revista The Nation em novembro. “Demanda um novo paradigma civilizatório, fundado não no domínio sobre a natureza, mas no respeito pelos ciclos naturais de renovação – e sensível aos limites naturais, incluindo os limites da inteligência humana.” A necessidade de um novo paradigma civilizatório, apesar de soar grandi- loquente, é pertinente, concorda Lara Resende.
Naomi reforça que o atual momento de crise do capitalismo-as-usual é oportunidade única para tomar “terreno econômico” na busca de um sistema mais inteligente. Ela defende que – assim como os conservadores americanos adotaram a rejeição às mudanças climáticas como elemento central de sua identidade – as forças progressistas coloquem a realidade científica em relação ao clima no cerne de uma narrativa coerente sobre a necessidade de alternativas reais ao modelo de livre mercado que alimenta a cobiça ilimitada.
O recado de Klein é endereçado a “ambientalistas profissionais”, aqueles “que pintam um quadro de Armageddon devido ao aquecimento global, e depois nos garantem que podemos evitar a catástrofe ao comprar produtos ‘verdes’ e criar mercados para a poluição”.
NEM TANTO AO CÉU…
Em vez disso, Naomi Klein quer regular o setor corporativo para que as sociedades tenham espaço para voltar a planejar com o interesse coletivo em mente e desenvolver economias locais mais fortes, livres do culto ao consumismo. Embora muita gente rejeite de cara os argumentos de Naomi apontando um viés ideológico, o discurso em prol de mudanças – muito menos radicais, claro – pode ser ouvido também no centro do mundo corporativo.
Um novo adepto é Michael Porter, professor de Harvard cujas ideias sobre estratégia corporativa e competitividade são ensinadas nas escolas de negócio mundo afora. Há um ano, Porter publicou artigo na revista Harvard Business Review em que prega que as corporações optem pela estratégia de “criar valor compartilhado” – gerando valor econômico que, por sua vez, cria valor para a sociedade.
“Não se trata de fazer coisas na periferia, apoiar causas sociais, fazer doações filantrópicas ou projetos de voluntariado nas margens do negócio”, disse em entrevista à BBC. “Trata-se de reexaminar o negócio em si da perspectiva de gerar lucro de uma maneira que realmente atenda a necessidades sociais.” Ou seja, repensar produtos, serviços e processos. Nada do que o guru advoga é novidade – a raridade é ouvir alguém com o tamanho da influência de Porter no mainstream falando sobre a necessidade de mudança.
Enquanto o ativismo de Porter é bem-vindo, a mudança que ele apregoa é uma que tira as corporações da posição de apenas administrar sua conformidade com as regras para uma em que tentam criar benefícios para a sociedade. Não questiona a centralidade do consumo e a pegada expansionista da economia globalizada nem nos livra do dilema de “quebrar o sistema econômico ou arrasar com o planeta”.
A solução para tal dilema continua elusiva – especialmente porque, com a crise do capitalismo em curso, é possível ver a privação que decorre do baixo ritmo de crescimento em sociedades viciadas em crescer. Dificilmente, diz Peter Victor, haverá consenso sobre um único modelo para fazer a transição para um novo paradigma. “As economias são estruturadas de maneira diferente e estão em diversos estágios de desenvolvimento, então haverá uma variedade de caminhos de transição”, afirma, acrescentando que é preciso que haja um “debate sadio” sobre tais caminhos. Sem dúvida, o debate será mais sadio se as partes reconhecerem a necessidade de mudar.
Embora o remédio para a crise, por parte dos governos, ainda seja mais crescimento – o Fundo Monetário Internacional, por exemplo, exorta a China crescer mais do que a meta de “apenas” 7,5% este ano –, há quem quebre fileiras. O ministro alemão das Finanças, o democrata-cristão Wolfgang Schäube, por exemplo, escreveu em artigo para uma publicação cristã em dezembro que as economias ocidentais chegaram a um ponto de saturação e defendeu limites ao crescimento.
CENSORES OU PROVEDORES?
Para Michael Jacobs, da University College London, entretanto, é justamente a mensagem de crescimento zero e abandono do consumo que dificulta que os “ver- des” – e seus apoiadores no mainstream – aproveitem o momento que se abre com a crise do capitalismo. Jacobs defende que, em vez de crescimento zero, a agenda de mudança seja centrada em limites aos impactos ambientais decorrentes da atividade econômica. O resultado, segundo ele, será crescimento bem menor, mas talvez não zero. Além disso, ele contesta a caracterização do consumo material como “uma coisa terrível”. “Consumir faz a maioria das pessoas feliz, não a longo prazo e não sem que haja saúde, satisfação no trabalho, família e relacionamentos.”
A mensagem de Jacobs é que a postura dos “verdes” tem consequências políticas. “Muito frequentemente eles são vistos como se estivessem censurando os trabalhadores por seus padrões de consumo e dizendo a eles que deveriam ganhar e consumir menos em uma economia que não cresce”, disse. A caracterização não é verdadeira, mas resulta uma impressão infeliz, afirma.
Ao contrário, os economistas ecológicos preocupam-se justamente com o bem-estar real das gerações presentes e das que virão. Mas é inevitável que a transição para um novo paradigma venha acompanhada de algum conflito e privação, disse a Página22 o economista americano Herman Daly, que defende a ideia de economias em steady-state desde os anos 70. “O quanto antes começarmos a caminhar na direção do steady-state, menos conflito haverá.”
A base de pesquisas sobre como proceder com a transição da economia sem causar caos social é escassa e precisa ser reforçada urgentemente, opina Peter Victor. Ele aponta, entretanto, várias dimensões de mudança com potencial para melhorar o bem-estar social e individual e reduzir os impactos ambientais. Entre elas, a distribuição mais equitativa de renda e riqueza, novos padrões de propriedade, um equilíbrio melhor entre tempo de trabalho e de lazer, um sistema financeiro reestruturado que sirva a economia real em vez de dominá-la, comunidades e economias locais mais fortes, a mudança para fontes renováveis de energia.
MERCADOS, PARA QUE TÊ-LOS?
Nem Daly nem Victor acreditam que seja necessário abdicar dos mercados como ferramenta para a alocação eficiente de bens privados, mas defendem que é chave regular o sistema financeiro. “Mudar para um sistema com 100% de reservas bancárias [em que o dinheiro depositado pelos correntistas não é emprestado] é uma boa ideia”, diz Daly. “Por que os bancos privados podem viver o sonho dos alquimistas de criar dinheiro do nada e emprestar a juros? Por que a base monetária, que serve ao público, deve ser um subproduto de empréstimos comerciais? Por que o público deve pagar juros aos bancos para que circulem dinheiro quando o governo pode fazer isso sem custo?”
Sem regulação e monitoramento, o sistema financeiro levará a novas crises, acredita Randall Wray, economista-sênior do Jerome Levy Economics Institute, do Bard College, de Nova York. No auge da última bolha, ele calcula, o setor financeiro americano capturou 40% dos lucros do setor corporativo e cerca de um quinto de todo o valor adicionado ao PIB. Capturou também o governo, com vários egressos de Wall Street ocupando postos de comando nas últimas três administrações americanas.
A desregulamentação e o inchaço do setor financeiro caracterizam o que Wray chama de money manager capitalism, ou o capitalismo dominado por gestores de recursos extremamente alavancados que vasculham o globo em busca dos máximos retornos. Adeptos do risco excessivo, impõem ao setor corporativo a busca incessante por resultados de curtíssimo prazo, alimentando mais produção, mais consumo e crises sucessivas. Enquanto eles, os money managers, colhem boa parte dos benefícios dessa ciranda, a grande maioria arca com os custos econômicos e ambientais.
A crise ambiental é uma crise do capitalismo
A crise ambiental não pode ser mais considerada meramente uma crise de ecossistemas ou de valores humanos, defendeu Michael Jacobs, em recente conferência em Londres. A escassez de energia, alimento, água, terra arável, pescado e commodities, aliada aos impactos da mudança climática, acidificação dos oceanos e perda de hábitats, resulta em feedback de custos que afetam a capacidade da economia global de continuar crescendo.
A economia trata problemas ambientais como externalidades – custos que não são arcados por produtores nem por consumidores, mas por terceiras partes. Na esfera macroeconômica, as externalidades foram historicamente impostas a partes periféricas, evitando-se efeitos nos preços no centro da economia. “Destruímos florestas há mais de 50 anos, com consequências terríveis para seus habitantes e a biodiversidade”, exemplificou Jacobs. “Mas, porque as florestas eram abundantes, isso não alterou o preço da madeira.”
Mas é possível detectar nos dados dos últimos dez anos uma alta consistente e persistente nos preços de energia, alimentos e commodities. O custo dos alimentos voltou aos níveis de antes da crise financeira iniciada em 2008 e o barril de petróleo estabilizou-se acima dos US$ 100. A queda de 70% de um índice de 33 commodities – compilado pela empresa de asset management GMO –, registrada de 1900 até 2002, foi apagada desde então. “Estatisticamente, uma reversão tão extraordinária de preços torna impossível que isso seja apenas uma irregularidade passageira que será revertida a tempo”, disse Jacobs. “Trata-se de escassez de recursos bem no coração das economias centrais.”
O motivo mais forte por trás da escassez, segundo ele, é o crescimento acelerado da gigantesca economia chinesa. E aí entra o feedback: a alta dos preços desacelera a economia chinesa, que por sua vez desacelera o resto da economia. “A crise ambiental não é mais uma crise de excesso de poluição, mas de oferta e demanda inadequada de recursos, da inabilidade do meio ambiente global, sob as condições econômicas atuais, de fornecer energia e alimento suficientes para suprir a demanda a preços estáveis.”
