Perscrutando qualquer sistema social e econômico, o que encontramos é a convivência de formas de competição e colaboração, concorrência e cooperação
Uma anedota pode servir para ilustrar o bailado de opostos em que estão sempre envolvidas as noções de colaboração e competição, como uma espécie de yin e yang econômico. Essa anedota pode ser chamada de “estranho caso do Banco Imobiliário”. O tradicional jogo de tabuleiro, cujo nome original – Monopoly! – tem a vantagem da sinceridade, consagrou-se como sucesso mundial com um formato praticamente oposto ao imaginado por sua inventora, e por isso é interessante.
Em 1906, a professora americana Lizzie Magie queria ensinar a seus alunos o pensamento do autor socialista Henry George. O eixo principal dessa teoria era a ideia de que a concentração da propriedade fundiária seria a grande causadora da miséria. Magie criou então o Landlord’s Game, que pode ser traduzido como “jogo do senhorio”, ou, para dar ares brasileiros, “jogo do latifundiário”. Uma das alternativas era jogar do modo que ficou consagrado mais tarde: cada um tentando dominar o máximo possível do território para extrair renda. Ganha quem obtiver o monopólio dos territórios e levar os adversários à asfixia financeira.
Mas havia uma outra possibilidade: cada um contribuir com suas próprias posses para que, em colaboração, todos prosperassem juntos. É claro que, para dizer o mínimo, a repercussão foi decepcionante. Fora o frescobol, não consigo imaginar um jogo bem-sucedido em larga escala no qual os interesses dos jogadores convirjam [1]. O jogo didático de Magie apelava a uma racionalidade de longo prazo inexistente no universo dos jogos, que apelam a um instinto de rivalidade e vitória.
[1] O Celsius – o desafio dos 2º é um exemplo de jogo que premia a colaboração e articulação entre os players: assista a vídeo.
PUBLICIDADE
A trajetória do jogo para tornar-se como o conhecemos é contada por Christopher Ketcham no artigo “Monopoly is Theft” . O que chama atenção é que Monopoly alcançou o sucesso quando extirpou uma das alternativas: competir sempre, colaborar jamais. Parece ser a versão lúdica da divisão caricatural entre competição e cooperação, que se cristalizou na imaginação moderna.
Mas no jogo, como no mundo, a caricatura esconde nuances bem mais finas. Perscrutando qualquer sistema social e econômico, o que encontramos é a convivência de formas de colaboração e competição, concorrência e cooperação. Se um dos extremos fosse alcançado, aconteceria como no jogo de Magie: ou bem a perda de interesse por falta de disputa, ou uma economia morta por asfixia, com a absoluta concentração dos recursos na mão do monopolista.
Para o antropólogo David Graeber, todo sistema de trocas é regido por três princípios. O ponto inicial é a colaboração pura e simples, ou “comunismo cotidiano”, e envolve os serviços e gestos que as pessoas fazem umas para as outras sem contrapartida, a cooperação entre colegas de trabalho, a organização interna das firmas – teorizada por Ronald Coase em 1937. No exemplo de Graeber, um trabalhador que pede a um colega uma ferramenta emprestada dificilmente ouvirá como resposta: “O que eu ganho com isso?” Se essa fosse a regra, a economia sucumbiria a uma vertigem de negociações.
Entretanto, os recursos são escassos: entra em cena o segundo princípio, a “troca”, e com ela a competição e o cálculo de equivalências, implicando uma relação determinada no tempo, que pode ser reiniciada, ao contrário da pura colaboração, que sugere continuidade. Mas existem diferenciais de poder, que se cristalizam em “hierarquia”, e se desviam da equivalência na medida em que formam identidades precisas. As relações se dão por hábitos adquiridos e é preciso eficiência para que as coisas aconteçam.
Graeber mostra como atividades diversas clamam por diferentes modos de organização, convivendo em diferentes graus, segundo o ponto de vista do observador e as idiossincrasias da sociedade. Um mundo fundado na competição, como o moderno, deixa espaços, embora marginais, para a cooperação (nas famílias, nas firmas) e a hierarquia (nas empresas, no Estado). Um sistema hierárquico, como o feudal, envolve enormes competições (entre nobres, por exemplo) e a profunda necessidade de cooperação.
Por isso, quando começa a tomar corpo a economia da colaboração, o mais relevante não é a mudança da prática, mas a do foco. A colaboração não suplanta nem a competição nem a hierarquia. Seria uma ilusão pensar que a escassez desaparecerá, ainda que certos bens, e até mesmo a energia, tenham custo marginal zero, como aponta Jeremy Rifkin. Antes, o que a economia colaborativa traz de transformador é a ampliação de um horizonte que, por tanto tempo, esteve encerrado nos antolhos da pura competição. E isso não é pouco.
*Jornalista, doutorando no Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da FFLCH/USP (Diversitas). Professor convidado na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo[:en]Perscrutando qualquer sistema social e econômico, o que encontramos é a convivência de formas de competição e colaboração, concorrência e cooperação
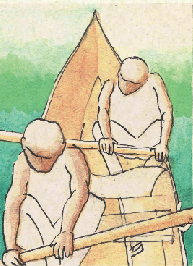 Uma anedota pode servir para ilustrar o bailado de opostos em que estão sempre envolvidas as noções de colaboração e competição, como uma espécie de yin e yang econômico. Essa anedota pode ser chamada de “estranho caso do Banco Imobiliário”. O tradicional jogo de tabuleiro, cujo nome original – Monopoly! – tem a vantagem da sinceridade, consagrou-se como sucesso mundial com um formato praticamente oposto ao imaginado por sua inventora, e por isso é interessante.
Uma anedota pode servir para ilustrar o bailado de opostos em que estão sempre envolvidas as noções de colaboração e competição, como uma espécie de yin e yang econômico. Essa anedota pode ser chamada de “estranho caso do Banco Imobiliário”. O tradicional jogo de tabuleiro, cujo nome original – Monopoly! – tem a vantagem da sinceridade, consagrou-se como sucesso mundial com um formato praticamente oposto ao imaginado por sua inventora, e por isso é interessante.
Em 1906, a professora americana Lizzie Magie queria ensinar a seus alunos o pensamento do autor socialista Henry George. O eixo principal dessa teoria era a ideia de que a concentração da propriedade fundiária seria a grande causadora da miséria. Magie criou então o Landlord’s Game, que pode ser traduzido como “jogo do senhorio”, ou, para dar ares brasileiros, “jogo do latifundiário”. Uma das alternativas era jogar do modo que ficou consagrado mais tarde: cada um tentando dominar o máximo possível do território para extrair renda. Ganha quem obtiver o monopólio dos territórios e levar os adversários à asfixia financeira.
Mas havia uma outra possibilidade: cada um contribuir com suas próprias posses para que, em colaboração, todos prosperassem juntos. É claro que, para dizer o mínimo, a repercussão foi decepcionante. Fora o frescobol, não consigo imaginar um jogo bem-sucedido em larga escala no qual os interesses dos jogadores convirjam [1]. O jogo didático de Magie apelava a uma racionalidade de longo prazo inexistente no universo dos jogos, que apelam a um instinto de rivalidade e vitória.
[1] O Celsius – o desafio dos 2º é um exemplo de jogo que premia a colaboração e articulação entre os players: assista a vídeo.
A trajetória do jogo para tornar-se como o conhecemos é contada por Christopher Ketcham no artigo “Monopoly is Theft” . O que chama atenção é que Monopoly alcançou o sucesso quando extirpou uma das alternativas: competir sempre, colaborar jamais. Parece ser a versão lúdica da divisão caricatural entre competição e cooperação, que se cristalizou na imaginação moderna.
Mas no jogo, como no mundo, a caricatura esconde nuances bem mais finas. Perscrutando qualquer sistema social e econômico, o que encontramos é a convivência de formas de colaboração e competição, concorrência e cooperação. Se um dos extremos fosse alcançado, aconteceria como no jogo de Magie: ou bem a perda de interesse por falta de disputa, ou uma economia morta por asfixia, com a absoluta concentração dos recursos na mão do monopolista.
Para o antropólogo David Graeber, todo sistema de trocas é regido por três princípios. O ponto inicial é a colaboração pura e simples, ou “comunismo cotidiano”, e envolve os serviços e gestos que as pessoas fazem umas para as outras sem contrapartida, a cooperação entre colegas de trabalho, a organização interna das firmas – teorizada por Ronald Coase em 1937. No exemplo de Graeber, um trabalhador que pede a um colega uma ferramenta emprestada dificilmente ouvirá como resposta: “O que eu ganho com isso?” Se essa fosse a regra, a economia sucumbiria a uma vertigem de negociações.
Entretanto, os recursos são escassos: entra em cena o segundo princípio, a “troca”, e com ela a competição e o cálculo de equivalências, implicando uma relação determinada no tempo, que pode ser reiniciada, ao contrário da pura colaboração, que sugere continuidade. Mas existem diferenciais de poder, que se cristalizam em “hierarquia”, e se desviam da equivalência na medida em que formam identidades precisas. As relações se dão por hábitos adquiridos e é preciso eficiência para que as coisas aconteçam.
Graeber mostra como atividades diversas clamam por diferentes modos de organização, convivendo em diferentes graus, segundo o ponto de vista do observador e as idiossincrasias da sociedade. Um mundo fundado na competição, como o moderno, deixa espaços, embora marginais, para a cooperação (nas famílias, nas firmas) e a hierarquia (nas empresas, no Estado). Um sistema hierárquico, como o feudal, envolve enormes competições (entre nobres, por exemplo) e a profunda necessidade de cooperação.
Por isso, quando começa a tomar corpo a economia da colaboração, o mais relevante não é a mudança da prática, mas a do foco. A colaboração não suplanta nem a competição nem a hierarquia. Seria uma ilusão pensar que a escassez desaparecerá, ainda que certos bens, e até mesmo a energia, tenham custo marginal zero, como aponta Jeremy Rifkin. Antes, o que a economia colaborativa traz de transformador é a ampliação de um horizonte que, por tanto tempo, esteve encerrado nos antolhos da pura competição. E isso não é pouco.
*Jornalista, doutorando no Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da FFLCH/USP (Diversitas). Professor convidado na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo

