O conhecimento gerado localmente pode fazer a diferença para milhões de pessoas. Um dos desafios é melhorar o diálogo das universidades com o “Brasil real”
Por Giovana Girardi
Um pedreiro, nordestino, retirante, teve uma ideia, nos anos 50. E ela era tão boa que virou projeto, encampado por uma comunidade, depois por uma ONG, depois pelo governo federal e, hoje, é uma iniciativa que leva água a 1 milhão de pessoas.
É também provavelmente um dos melhores exemplos de que grandes soluções não florescem apenas na academia ou em departamentos de pesquisa de empresas – um conhecimento gerado localmente, em pequena escala, tem o potencial de ajudar milhões de pessoas com o mesmo problema.
Essa é a história de Manuel Apolônio de Carvalho, que deixou sua terra na Bahia em direção a São Paulo, por causa da seca, e, na lida de construir piscinas para paulistanos, teve a inspiração que mudaria a vida de muita gente. Ele bolou um tipo novo de cisterna, redondo, estruturado em placas pré-moldadas, que capta água da chuva e é muito mais barato que os modelos tradicionais. Voltou para casa quatro meses depois, construiu uma, que em três anos já tinha virado 400. O modelo foi replicado e melhorado e, no começo de abril, havia ultrapassado 251 mil unidades – dentro de uma meta de chegar a 1 milhão de cisternas de placa que levariam água a mais de 5 milhões no Semiárido brasileiro.
A ideia do seu Manuel – motivada pelos anos em que buscava água em um riacho distante por horas de sua casa – gerou o que é conhecido como tecnologia social. A expressão começou a ganhar destaque no início desta década e serve para denominar desde as inovações surgidas nesse tipo de situação até aquelas criadas por instituições de pesquisa em parceria com comunidades, e que visem solucionar algum problema social. Está ligada a um movimento que cresce no Brasil, com o objetivo de dar escala para achados às vezes brilhantes, mas restritos, cuja criatividade está diretamente relacionada à necessidade.
Foi nesse contexto que em 2005 surgiu a Rede de Tecnologia Social (RTS), voltada para ações que conectam e replicam essas experiências. De acordo com Larissa Barros, secretária-executiva da rede, num primeiro momento viu-se que era preciso aproximar o novo conceito de quem já trabalhava com isso. “A intenção é fazer com que a pessoa ou a comunidade entendam que o que ela está fazendo é tecnologia, é solução. Ter esse reconhecimento faz toda a diferença. As pessoas percebem que o saber delas é fundamental e que o conhecimento da realidade onde elas vivem é componente da solução”, explica.
Segundo ela, este é o grande diferencial das tecnologias que surgem nessas condições em comparação com outras que vêm, por exemplo, da academia. “Não adianta nada o pesquisador chegar lá, tomar conhecimento do problema, ir para a universidade, pensar uma solução e levar de volta para comunidade para implantá-la. Isso não dá muito certo. É só transferência de tecnologia. Para funcionar, tem de agregar o conhecimento de quem está vivendo aquilo.”
Larissa acredita que um dos desafios do movimento é justamente melhorar esse diálogo das universidades com o “Brasil real”, até porque muitas vezes a inovação não vem completa na cabeça das pessoas, como ocorreu com seu Manuel, mas surge apenas como um insight e precisa de uma mãozinha da ciência para se tornar realidade. Assim como de parcerias com empresas para incrementar ou melhorar a inovação. A universidade está atenta, tanto que o Fórum de Pró-Reitores de Extensão faz parte da RTS, e seu congresso nacional realizado no final de abril teve como tema as tecnologias sociais. “Mas ainda não conquistamos o pessoal da pesquisa”, lamenta Larissa.
Pesquisadores que investigam o movimento das TS acreditam que um dos motivos para essa parceria ainda não ser maior talvez seja a falsa noção de que tais tecnologias não são intensivas em conhecimento, o que não demandaria uma pesquisa de ponta e pareceria menos desafiador para a academia ou para grandes empresas. “Em sua origem como ‘tecnologia apropriada’, na década de 70, esse movimento tinha um papel de contestação ao modo como as empresas produziam tecnologia, era uma negação ao processo convencional de inovação”, afirma José Carlos Barbieri, professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getulio Vargas.
“Mas elas trazem um desafio de quebrar escalas da produção, de manter a autonomia das pessoas em um padrão que seja ao mesmo tempo inclusivo e competitivo. A comunidade acadêmica precisa olhar com mais atenção”, diz.
Segundo Barbieri, esse sistema de inovação preocupado com o social e não somente em benefício próprio, como é a abordagem das empresas, não implica falta de lucro. Ao contrário. Um exemplo citado por ele traz indicadores que seriam admirados por qualquer administrador: aumento de 400% nos ganhos e melhoria da eficiência, elevando o aproveitamento dos recursos de 65%, no modo tradicional, para 85%, com o novo modelo.
Esses resultados foram alcançados com a implantação de uma minifábrica de processamento e comercialização da amêndoa da castanha de caju. O equipamento permitiu que os produtores passassem a beneficiar a castanha, em vez de simplesmente vendê-la in natura. Com isso elevaram seus ganhos de cerca de R$ 1,60/kg para US$ 4/kg para exportação. E ainda se mostraram mais eficientes que o processo da indústria mecanizada, aumentando em cerca de 20% a produtividade na obtenção de castanhas inteiras, pós-beneficiamento.
“A tecnologia social funciona de um modo completamente diferente da abordagem das grandes empresas para a base da pirâmide. Na busca por maiores mercados, elas produzem bens e serviços mais apropriados para esse público, mas as comunidades não têm nenhum controle sobre eles. Nas tecnologias sociais, a base está produzindo conhecimento para ela mesma, com autonomia”, explica Barbieri.
Atração de políticas públicas Outros desafios ainda maiores são conseguir aumentar os recursos para a replicação das tecnologias bem-sucedidas e fazer com que elas se tornem objeto de políticas públicas. O aporte financeiro, de certo modo, vem ocorrendo. Quando a RTS surgiu, havia uma meta entre os mantenedores de investir cerca de R$ 16 milhões ao longo de quatro anos. Nesse período, no entanto, não só o investimento de cada um deles foi maior como também cresceu a quantidade de mantenedores, de modo que hoje contam-se cerca de R$ 230 milhões destinados a esse fim. “Mas ainda é muito pouco, considerando-se o tamanho do País”, afirma Larissa.
A parte das políticas públicas já é um pouco mais difícil. Mesmo o programa Um Milhão de Cisternas, proposto pela Articulação no Semi-Árido (ASA) e posteriormente encampado pelo governo federal no âmbito do Fome Zero, acabou perdendo um pouco de força nos últimos tempos. Ao ser lançado, em 2003, o plano era atingir a meta em cinco anos. Em 2007, o assunto foi retomado durante as negociações, para tentar interromper a greve de fome do bispo dom Luiz Flávio Cappio, em protesto contra a transposição do Rio São Francisco. Mas até o momento cumpriu-se somente 25% do prometido.
Para Rogério Miziara, analista da Fundação Banco do Brasil (FBB), que realiza a cada dois anos o Prêmio de Tecnologia Social, transformar essas tecnologias em políticas públicas é realmente o maior desafio. Surgindo elas estão, e cada vez mais, como se observa pelo aumento de inscrições no prêmio. Entre a primeira edição, em 2001, e a última, em 2007, cresceram 50%. Mas, se nem todas se tornam políticas, pelo menos trabalhos como o da RTS – que está criando um banco de dados de tecnologias para deixá-las acessíveis – e o da FBB acabam ajudando na replicação. Segundo Miziara, mesmo aquelas que não são premiadas conseguem se disseminar e angariar recursos após serem certificadas como uma tecnologia social.
“A necessidade e o problema geram essas tecnologias sociais. E elas propiciam às comunidades uma autossustentabilidade, agregando aspectos ambientais, econômicos e culturais que, juntos, contribuem para um país mais sustentável,” complementa.
Fora dos muros – Programa de formação em sustentabilidade vai aonde a demanda está
Na vanguarda da geração de conhecimento no localonde ele é mais necessário, a recém-nascida Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade (Escas), parceria do Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ) com a Natura, resolveu sair dos muros da instituição para desenvolver uma escola itinerante no foco dos problemas.
A escola, localizada em Nazaré Paulista, interior de São Paulo, há dois anos oferece um mestrado profissional em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável, o primeiro do gênero no país. Pela proposta, os alunos passam um ano no campus assistindo às aulas e depois mais um ano fazendo seu projeto. Mas isso exige do estudante disponibilidade de passar pelo menos um ano longe de casa e do trabalho.
Para tentar aumentar esse público, surgiu então a ideia de ir aonde a demanda está – no caso, Serra Grande, entre Ilhéus e Itacaré, no Sul da Bahia, região com remanescente da Mata Atlântica. Ali foi montado neste ano o projeto piloto com o apoio do Instituto Arapyaú, organização criada pelo empresário Guilherme Leal, um dos fundadores da Natura.
“Queremos formar uma massa crítica na região, onde os desafios de conservação são cada vez maiores. O produto final do mestrado não será uma tese, mas algo útil que possa ser usado no local”, afirma Suzana Pádua, presidente do IPÊ e umas das professoras do curso. A primeira turma tem doze alunos das mais diversas áreas, da saúde ao ramo hoteleiro, com conhecimento dos problemas da região.
“Estamos em um local com grande biodiversidade, com potencial de se tornar polo turístico e onde está estudada a criação de um porto e por onde passa a Rodovia BA-00. A meta é ter modelos e práticas que possibilitem o desenvolvimento sustentável do Sul da Bahia. Para isso é preciso criar competências ali”, complementa Anamaria Schindler, superintendente do Arapyaú.
O conhecimento gerado localmente pode fazer a diferença para milhões de pessoas. Um dos desafios é melhorar o diálogo das universidades com o “Brasil real”
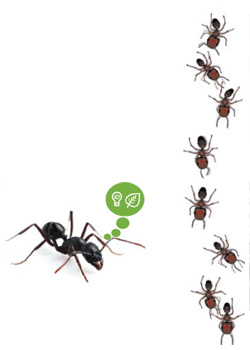 Um pedreiro, nordestino, retirante, teve uma ideia, nos anos 50. E ela era tão boa que virou projeto, encampado por uma comunidade, depois por uma ONG, depois pelo governo federal e, hoje, é uma iniciativa que leva água a 1 milhão de pessoas. É também provavelmente um dos melhores exemplos de que grandes soluções não florescem apenas na academia ou em departamentos de pesquisa de empresas – um conhecimento gerado localmente, em pequena escala, tem o potencial de ajudar milhões de pessoas com o mesmo problema.
Um pedreiro, nordestino, retirante, teve uma ideia, nos anos 50. E ela era tão boa que virou projeto, encampado por uma comunidade, depois por uma ONG, depois pelo governo federal e, hoje, é uma iniciativa que leva água a 1 milhão de pessoas. É também provavelmente um dos melhores exemplos de que grandes soluções não florescem apenas na academia ou em departamentos de pesquisa de empresas – um conhecimento gerado localmente, em pequena escala, tem o potencial de ajudar milhões de pessoas com o mesmo problema.Essa é a história de Manuel Apolônio de Carvalho, que deixou sua terra na Bahia em direção a São Paulo, por causa da seca, e, na lida de construir piscinas para paulistanos, teve a inspiração que mudaria a vida de muita gente. Ele bolou um tipo novo de cisterna, redondo, estruturado em placas pré-moldadas, que capta água da chuva e é muito mais barato que os modelos tradicionais. Voltou para casa quatro meses depois, construiu uma, que em três anos já tinha virado 400. O modelo foi replicado e melhorado e, no começo de abril, havia ultrapassado 251 mil unidades – dentro de uma meta de chegar a 1 milhão de cisternas de placa que levariam água a mais de 5 milhões no Semiárido brasileiro.
A ideia do seu Manuel – motivada pelos anos em que buscava água em um riacho distante por horas de sua casa – gerou o que é conhecido como tecnologia social. A expressão começou a ganhar destaque no início desta década e serve para denominar desde as inovações surgidas nesse tipo de situação até aquelas criadas por instituições de pesquisa em parceria com comunidades, e que visem solucionar algum problema social. Está ligada a um movimento que cresce no Brasil, com o objetivo de dar escala para achados às vezes brilhantes, mas restritos, cuja criatividade está diretamente relacionada à necessidade.
Foi nesse contexto que em 2005 surgiu a Rede de Tecnologia Social (RTS), voltada para ações que conectam e replicam essas experiências. De acordo com Larissa Barros, secretária-executiva da rede, num primeiro momento viu-se que era preciso aproximar o novo conceito de quem já trabalhava com isso. “A intenção é fazer com que a pessoa ou a comunidade entendam que o que ela está fazendo é tecnologia, é solução. Ter esse reconhecimento faz toda a diferença. As pessoas percebem que o saber delas é fundamental e que o conhecimento da realidade onde elas vivem é componente da solução”, explica.
Segundo ela, este é o grande diferencial das tecnologias que surgem nessas condições em comparação com outras que vêm, por exemplo, da academia. “Não adianta nada o pesquisador chegar lá, tomar conhecimento do problema, ir para a universidade, pensar uma solução e levar de volta para comunidade para implantá-la. Isso não dá muito certo. É só transferência de tecnologia. Para funcionar, tem de agregar o conhecimento de quem está vivendo aquilo.”
Larissa acredita que um dos desafios do movimento é justamente melhorar esse diálogo das universidades com o “Brasil real”, até porque muitas vezes a inovação não vem completa na cabeça das pessoas, como ocorreu com seu Manuel, mas surge apenas como um insight e precisa de uma mãozinha da ciência para se tornar realidade. Assim como de parcerias com empresas para incrementar ou melhorar a inovação. A universidade está atenta, tanto que o Fórum de Pró-Reitores de Extensão faz parte da RTS, e seu congresso nacional realizado no final de abril teve como tema as tecnologias sociais. “Mas ainda não conquistamos o pessoal da pesquisa”, lamenta Larissa.
Pesquisadores que investigam o movimento das TS acreditam que um dos motivos para essa parceria ainda não ser maior talvez seja a falsa noção de que tais tecnologias não são intensivas em conhecimento, o que não demandaria uma pesquisa de ponta e pareceria menos desafiador para a academia ou para grandes empresas. “Em sua origem como ‘tecnologia apropriada’, na década de 70, esse movimento tinha um papel de contestação ao modo como as empresas produziam tecnologia, era uma negação ao processo convencional de inovação”, afirma José Carlos Barbieri, professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getulio Vargas.
“Mas elas trazem um desafio de quebrar escalas da produção, de manter a autonomia das pessoas em um padrão que seja ao mesmo tempo inclusivo e competitivo. A comunidade acadêmica precisa olhar com mais atenção”, diz.
Segundo Barbieri, esse sistema de inovação preocupado com o social e não somente em benefício próprio, como é a abordagem das empresas, não implica falta de lucro. Ao contrário. Um exemplo citado por ele traz indicadores que seriam admirados por qualquer administrador: aumento de 400% nos ganhos e melhoria da eficiência, elevando o aproveitamento dos recursos de 65%, no modo tradicional, para 85%, com o novo modelo.
Esses resultados foram alcançados com a implantação de uma minifábrica de processamento e comercialização da amêndoa da castanha de caju. O equipamento permitiu que os produtores passassem a beneficiar a castanha, em vez de simplesmente vendê-la in natura. Com isso elevaram seus ganhos de cerca de R$ 1,60/kg para US$ 4/kg para exportação. E ainda se mostraram mais eficientes que o processo da indústria mecanizada, aumentando em cerca de 20% a produtividade na obtenção de castanhas inteiras, pós-beneficiamento.
“A tecnologia social funciona de um modo completamente diferente da abordagem das grandes empresas para a base da pirâmide. Na busca por maiores mercados, elas produzem bens e serviços mais apropriados para esse público, mas as comunidades não têm nenhum controle sobre eles. Nas tecnologias sociais, a base está produzindo conhecimento para ela mesma, com autonomia”, explica Barbieri.
Atração de políticas públicas Outros desafios ainda maiores são conseguir aumentar os recursos para a replicação das tecnologias bem-sucedidas e fazer com que elas se tornem objeto de políticas públicas. O aporte financeiro, de certo modo, vem ocorrendo. Quando a RTS surgiu, havia uma meta entre os mantenedores de investir cerca de R$ 16 milhões ao longo de quatro anos. Nesse período, no entanto, não só o investimento de cada um deles foi maior como também cresceu a quantidade de mantenedores, de modo que hoje contam-se cerca de R$ 230 milhões destinados a esse fim. “Mas ainda é muito pouco, considerando-se o tamanho do País”, afirma Larissa.
A parte das políticas públicas já é um pouco mais difícil. Mesmo o programa Um Milhão de Cisternas, proposto pela Articulação no Semi-Árido (ASA) e posteriormente encampado pelo governo federal no âmbito do Fome Zero, acabou perdendo um pouco de força nos últimos tempos. Ao ser lançado, em 2003, o plano era atingir a meta em cinco anos. Em 2007, o assunto foi retomado durante as negociações, para tentar interromper a greve de fome do bispo dom Luiz Flávio Cappio, em protesto contra a transposição do Rio São Francisco. Mas até o momento cumpriu-se somente 25% do prometido.
Para Rogério Miziara, analista da Fundação Banco do Brasil (FBB), que realiza a cada dois anos o Prêmio de Tecnologia Social, transformar essas tecnologias em políticas públicas é realmente o maior desafio. Surgindo elas estão, e cada vez mais, como se observa pelo aumento de inscrições no prêmio. Entre a primeira edição, em 2001, e a última, em 2007, cresceram 50%. Mas, se nem todas se tornam políticas, pelo menos trabalhos como o da RTS – que está criando um banco de dados de tecnologias para deixá-las acessíveis – e o da FBB acabam ajudando na replicação. Segundo Miziara, mesmo aquelas que não são premiadas conseguem se disseminar e angariar recursos após serem certificadas como uma tecnologia social.
“A necessidade e o problema geram essas tecnologias sociais. E elas propiciam às comunidades uma autossustentabilidade, agregando aspectos ambientais, econômicos e culturais que, juntos, contribuem para um país mais sustentável,” complementa.
Fora dos muros – Programa de formação em sustentabilidade vai aonde a demanda está
Na vanguarda da geração de conhecimento no localonde ele é mais necessário, a recém-nascida Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade (Escas), parceria do Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ) com a Natura, resolveu sair dos muros da instituição para desenvolver uma escola itinerante no foco dos problemas.
A escola, localizada em Nazaré Paulista, interior de São Paulo, há dois anos oferece um mestrado profissional em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável, o primeiro do gênero no país. Pela proposta, os alunos passam um ano no campus assistindo às aulas e depois mais um ano fazendo seu projeto. Mas isso exige do estudante disponibilidade de passar pelo menos um ano longe de casa e do trabalho.
Para tentar aumentar esse público, surgiu então a ideia de ir aonde a demanda está – no caso, Serra Grande, entre Ilhéus e Itacaré, no Sul da Bahia, região com remanescente da Mata Atlântica. Ali foi montado neste ano o projeto piloto com o apoio do Instituto Arapyaú, organização criada pelo empresário Guilherme Leal, um dos fundadores da Natura.
“Queremos formar uma massa crítica na região, onde os desafios de conservação são cada vez maiores. O produto final do mestrado não será uma tese, mas algo útil que possa ser usado no local”, afirma Suzana Pádua, presidente do IPÊ e umas das professoras do curso. A primeira turma tem doze alunos das mais diversas áreas, da saúde ao ramo hoteleiro, com conhecimento dos problemas da região.
“Estamos em um local com grande biodiversidade, com potencial de se tornar polo turístico e onde está estudada a criação de um porto e por onde passa a Rodovia BA-00. A meta é ter modelos e práticas que possibilitem o desenvolvimento sustentável do Sul da Bahia. Para isso é preciso criar competências ali”, complementa Anamaria Schindler, superintendente do Arapyaú.
PUBLICIDADE
