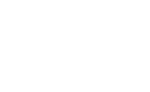O 13º Congresso Gife, que reuniu cerca de 1 mil pessoas em maio, abriu espaço a provocações e reflexões para uma filantropia que, na avaliação dos especialistas, precisa mudar para levar a transformações efetivas
Por Mônica C. Ribeiro*
Debater a filantropia brasileira desde a desconcentração de poder, conhecimento e riqueza. Esse foi o mote proposto pelo Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife) em seu 13º Congresso, que reuniu cerca de 1 mil pessoas neste mês de maio, em Fortaleza. Logo na plenária de abertura, o secretário-geral do Gife, Cássio França, trouxe a provocação para os três dias de evento: “Filantropia no Brasil não pode ser pouco, em número ou quantidade. É preciso ser muito, porque nosso país é muito desigual. Queremos uma filantropia que, de fato, desconcentre poder, conhecimento e riqueza, e ajude a tornar nosso país mais equânime”.
Em uma sociedade estruturalmente desigual como a brasileira, garantir o acesso a direitos que estão postos na Constituição de 1988, mas que não são garantidos para todos, passa, obviamente, pelo tema do Congresso Gife. Esta agenda está presente há algumas edições na programação do Congresso, seja central ou lateralmente. Mas parece ainda ter reflexos lentos no modo como o investimento social privado (ISP) atua em geral no País.
Descentralizar poder, riqueza e conhecimento passa por enfrentar o racismo estrutural do Brasil, abrir mãos de privilégios e reconhecer e respeitar saberes de movimentos e organizações da sociedade civil nos processos de decisão sobre como os recursos devem ser aplicados para gerar transformação em seus territórios. Passa também por decolonizar práticas de doação, ampliar a diversidade em quadros decisórios e de liderança e fortalecer grupos politicamente minorizados no País – populações indígenas, quilombolas, movimento negro, LGBTQIAPN+ e mulheres, que estão na linha de frente da proteção de seus territórios e comunidades.

Para entender o tamanho do desafio posto para a filantropia, basta olhar a última edição do Censo Gife. Movimentos sociais, coletivos e redes são apoiados por 20% dos associados respondentes. Defesa de direitos, cultura de paz e democracia são foco de doação de 38% e desenvolvimento institucional de organizações da sociedade civil e movimentos sociais de 36%. Quando indagadas sobre foco prioritário de atuação, esses percentuais caem para 9% e 4%, respectivamente.
Olhando ainda para territórios de atuação, áreas de preservação ambiental (13%), comunidades remanescentes de quilombos (10%), Terras Indígenas (7%) e assentamentos (3%) figuram abaixo na agenda de prioridades do ISP, evidenciando o ainda distanciamento de parte expressiva da filantropia nacional do tema do Congresso.
“A história da filantropia aqui é muito recente e se desenvolve em um cenário de profundo déficit de direitos e de desigualdade. A afirmação constante de que uns são mais iguais do que outros está arraigada na nossa cultura. A filantropia vai no sentido oposto, mas muitas vezes reitera isso, porque é da nossa cultura. Como, nesse momento crítico, olhamos para a nossa história e focamos nessa dimensão que nos funda, filantropia, que é a promoção da igualdade? Precisamos fazer convergir capacidades e visões diferentes. Repensar o pacto de 1988 e ver o que estamos devendo e o que precisa ser alterado é fundamental”, destaca Átila Roque, diretor da Fundação Ford no Brasil.
Contexto global desafiador
Em um contexto de redução de financiamento internacional para organizações da sociedade civil, especialmente aquelas que atuam na chave de promoção de acesso a direitos, o chamado à filantropia nacional foi evidente e esteve presente em várias mesas em que organizações da filantropia independente e da sociedade civil trouxeram suas vozes e corpos para o debate.
Os reflexos da política estadunidense estão presentes não só no cessar de apoios via cooperação internacional, mas também na própria filantropia daquele país. Grandes empresas têm anunciado cortes e interrupção de apoios e políticas de diversidade e direitos humanos. Organizações filantrópicas nos EUA têm sido ameaçadas em seus financiamentos e doações para fora do país, muitas delas interrompendo linhas de apoio importantes para a sociedade civil como reação a essas investidas do governo.
A sociedade civil brasileira já é afetada por esse quadro, pois a quase totalidade dos recursos voltados a direitos humanos são provenientes de fontes internacionais. Lideranças da sociedade civil estiveram presentes em várias mesas do Congresso, trazendo desafios, oportunidades e apontando caminhos. No entanto, como destacou a pesquisadora Jessica Sklair, autora do livro Brazilian Elites and their Philanthropy: Wealth at the Service of Development (Routledge, 2022), a plateia esteve composta majoritariamente por sociedade civil e intermediários.
Em sua visão, a filantropia brasileira avançou, tem mais diversidade do que há 15 anos, e há debates na mesa que não estavam postos, como a importância do grantmaking (financiamento de organizações ou iniciativas, em vez de uso de recursos em projetos próprios) e de abrir mão do poder.
“A questão que se coloca não é como fazer, mas sim por que não estamos fazendo. A elite brasileira ainda não quer. As coisas que sabemos que precisam acontecer realmente precisam acontecer. De certa maneira, quem precisava ouvir esses recados não está aqui na sala. A maioria do público são intermediários, que têm um papel importantíssimo na mudança, mas no fim do dia quem precisa ser convencido são os donos do capital, e eles não estão aqui presentes”, afirmou Sklair.

Já sabemos o que precisa ser feito, e agora?
A sociedade civil deu recados importantes sobre os caminhos para a descentralização de poder, dinheiro e conhecimento no campo da filantropia. O compromisso com a intencionalidade e com metas reais para que a mudança de fato se materialize foi destaque em várias falas. Como também a decolonização das práticas de doação, investindo em construir estratégias com as organizações e movimentos da sociedade civil, em relações de confiança, reconhecendo seu protagonismo e conhecimento, e buscando fortalecer essas organizações e movimentos para fortalecer a nossa democracia.
“O Brasil é racista desde o início, e a nossa pirâmide social é praticamente a mesma desde a abolição da escravatura. As coisas mudaram um pouco, mas foi uma conquista a duras penas do movimento social e sem apoio da filantropia na maior parte do tempo”, destacou Bianca Santana, diretora da Casa Sueli Carneiro.
“Precisamos de condições para imaginar e disputar imaginários. A gente precisa investir em construção de mundo. E não dá para colocar um pouquinho de dinheiro por ano achando que vai resolver. Precisamos de apoio duradouro, por dez anos. Todos sabemos disso, mas por alguma razão não se tem coragem de fazer.”
Um exemplo concreto dos resultados desse apoio contínuo foi trazido pela diretora do Instituto Marielle Franco, Ligia Batista: “O assassinato de Marielle é um marco que nos lembra a questão da democracia, mas também precisamos olhar para o que significou esse apoio perene que levou Anielle Franco a ocupar um cargo de ministra. Se não houver continuidade, não tem transformação. O apoio de lideranças negras leva à ocupação de espaços importantes. O Fundo Feminista Negro faz apoio de oito anos, livre e flexível. É uma experiência que a filantropia precisa olhar.”
Marcio Black, do Instituto Beja, pontuou que, por mais que haja lideranças negras em áreas de direção, a caneta não está nas mãos delas. “Temos de reconhecer que as coisas não acontecem porque as pessoas não querem que aconteça. Precisa de intencionalidade para se transformar. A gente subestima a intencionalidade de quem não quer que a coisa mude.”
Douglas Belchior, do Instituto de Referência Negra Peregum, destacou que uma filantropia comprometida com a realidade brasileira precisa ser reparatória, redistributiva de poder, construída a partir do território, e ser antirracista. “Uma filantropia que liberta e não aprisiona; que não doa, devolve”. E citou como exemplos de financiadores que fogem da lógica tradicional do investimento social privado o Fundo Baobá para Equidade Racial e o Fundo Brasil de Direitos Humanos.
O modo dominante como as doações são feitas pela filantropia também precisa mudar para gerar transformação. A confiança nas organizações e movimentos da sociedade civil, o respeito ao protagonismo deles, o reconhecimento de seus saberes para direcionar os recursos para o que é mais importante para seus territórios e grupos e a flexibilidade das doações atrelada a isso foram pontos destacados para apoiar a mudança.
“A gente precisa olhar para as estratégias dessas organizações. Nossas organizações não podem ser como árvores assentadas em uma base de concreto na calçada. Precisam ser olhadas como árvores que têm um vasto terreno ou território para se desenvolverem. Elas precisam de espaço e de liberdade perene e constante para pensar seus territórios”, disse Diane Pereira Sousa, associada do Instituto Baixada.
A inversão da lógica de financiadores chegarem com uma agenda pré-definida para os territórios é uma necessidade apontada em diversos momentos. Marcelle Decothé, da Iniciativa Pipa – organização autora do Guia das Periferias para Doadores – destaca que “é preciso que o dinheiro não seja o fim, porque o fim é a superação das desigualdades”.
E o clima?
A mudança climática coloca mais uma camada às desigualdades sociais e econômicas, já que os grupos mais atingidos por seus efeitos são os mesmos já em situação de vulnerabilidade. Clima não é uma categoria pesquisada na última edição do Censo Gife, mas por ser uma pauta transversal, se olhada pelo prisma temático do Congresso, podemos considerar os percentuais de investimento da filantropia nos grupos mais afetados, já citados neste texto.
A questão climática, frente à realização da COP 30 no Pará, em novembro, teve presença relativamente tímida no Congresso, embora tenha sido mencionada algumas vezes em outros espaços como uma questão colocada também para a filantropia nesse momento de mundo.
O episódio das enchentes no Rio Grande do Sul em 2024 foi rememorado como um marco da questão. Alice de Moraes Amorim Vogas, chefe da Unidade Extraordinária de Assessoramento para a COP 30 no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), destacou como aprendizados a governança e colaboração envolvendo os governos federal, estadual e municipal; a comunicação pela imprensa e o real comprometimento do governo, com a criação da iniciativa AdaptaCidades; e a predisposição ao aprendizado.
“Cada vez mais foi ficando clara a complexidade para lidar com a recuperação e se prevenir para que não aconteça de novo. O estabelecimento de governança traz oportunidade para que a sociedade civil e a filantropia atuem. A solução é descentralizada.”
Marcio Astrini, do Observatório do Clima, pontuou que a mudança climática, de pauta abstrata, passou a ser sentida no dia a dia. “Uma agenda que antes era reservada a relatórios e dados que avisavam sobre cenários futuros tornou-se agora cotidiana na realidade das pessoas, sentida seja por eventos como chuvas torrenciais, enchentes e secas extremas ou pelo preço de alimentos como o café, chocolate, ovos, e mesmo aumento das tarifas da conta de energia. A agenda de clima é construída em base técnica, mas só vai decolar quando agregar os componentes sociais.”
A Rede Comuá, que reúne organizações da filantropia independente que apoiam o que a sociedade civil já faz em seus territórios, apresentou a iniciativa Comuá pelo Clima, que tem a finalidade de promover a construção de arranjos coletivos, reforçando o papel estratégico do financiamento de Soluções Climáticas Locais em diversos territórios e biomas do Brasil.
“O clima é visto por nós como uma agenda de direitos, sobre pessoas. Falar de clima é falar do dinheiro chegar a essas comunidades e grupos para financiar suas soluções no enfrentamento da crise climática”, define o diretor-executivo da organização, Jonathas Azevedo.

Segundo ele, as organizações da Rede Comuá doaram, somente entre 2022 e 2023, quase R$ 400 milhões em apoio a soluções climáticas locais – criadas por comunidades e movimentos com base nas especificidades de seus territórios e grupos envolvidos e voltadas para o fortalecimento da ação coletiva na defesa de direitos. Azevedo fez um chamado à filantropia no sentido de se juntar a esse movimento em arranjos junto a organizações como as da Rede Comuá, que podem potencializar a chegada dos recursos aos territórios.
Amanda Costa, do Instituto Perifa Sustentável, foi na mesma direção ao destacar que enfrentar as emergências climáticas passa por apoiar quem está na linha de frente, populações historicamente excluídas dos espaços de decisão e que são as mais atingidas. Padrões de renda, cor da pele e gênero definem pessoas mais vulneráveis aos eventos intensificados pela crise ambiental.
“Se queremos fortalecer a agenda climática, precisamos fortalecer lideranças negras, quilombolas e indígenas. Para mim, como mulher preta, periférica, clima é agenda de sobrevivência”, afirmou Costa.
A tônica do debate sobre clima girou também, como em outros temas ao longo do Congresso, em torno da necessidade fundamental de construir estratégias com os territórios, apoiando soluções locais, e avançar em arranjos com múltiplos atores para ampliar os recursos que chegam a grupos e comunidades mais atingidos pelos efeitos da mudança climática.
A agenda da adaptação esteve no centro, destacada por Alice Amorim como uma agenda de direitos humanos e de justiça. “O Brasil nunca antes valorizou essa agenda, que era vista como dos países mais vulneráveis. E o Brasil é um país vulnerável. Adaptar não é uma escolha, mas uma necessidade.”
Que futuro a filantropia pode ajudar a construir?
Os debates conduzidos ao longo do Congresso culminaram em imaginar legados e futuros semeados pela filantropia para os próximos 30 anos do investimento social privado. Giovanni Harvey, do Fundo Baobá para Equidade Racial e conselheiro do Gife, destacou a necessidade de intencionalidade e metas comprometidas com a mudança para avançar no rumo dessa desconcentração de dinheiro, poder e conhecimento.
“A filantropia no Brasil ainda é muito mais pautada nas necessidades de quem doa do que nas de quem recebe, disse Harvey.
Ele acrescentou: “O futuro é socialmente construído. E futuro é diferente de destino. Se queremos ter um futuro, temos que olhar para aspectos e fatos portadores de futuro que nos impactarão ao longo dos próximos anos. É ilusão da extrema direita achar que os movimentos negros, LGBT e de mulheres vão recuar. Como vamos projetar a resultante desse embate? A filantropia vai ter que se projetar nesses cenários e fazer escolhas.”

Para Jessica Sklair, essa projeção de futuro requer abordar o capitalismo e a relação com a filantropia: “O projeto da filantropia não nasceu para acabar com as desigualdades. Nasceu como movimento colaborativo para ajudar o desenvolvimento capitalista. O movimento das organizações da sociedade, sim, tinha esse olhar. Se queremos para o futuro uma filantropia comprometida com o desenvolvimento social, vamos ter de mudar algumas chaves.”
Segundo ela, o Brasil tem sorte de ter uma sociedade civil tão dinâmica e rica para dialogar. “Há pessoas na elite brasileira que têm muita inquietação e desconforto, mas não têm esse imaginário de como poderiam fazer diferente. Esse imaginário está nas organizações da sociedade civil, nos movimentos. O trabalho está feito, de mostrar esses outros mundos possíveis. O futuro é trabalhar esse diálogo e passar os recursos para a sociedade civil.”
A descentralização de poder passa por incluir, em espaços de real tomada de decisão na filantropia, lideranças de organizações comunitárias e periféricas, impactando em quem disputa, na ponta, o futuro do Brasil. Essa é a visão de Marcelle Decothé, da Iniciativa Pipa, que evoca Nego Bispo ao destacar que saberes e práticas centradas em pessoas negras e periféricas devem ser considerados no desenho das estratégias de doação: “é preciso entregar o poder de decisão a quem vive os problemas que o investimento social privado busca enfrentar”.
A crise da democracia esteve presente ao debate, com o Brasil às portas de uma nova eleição presidencial e o fantasma da extrema direita rondando os imaginários, o que rapidamente nos transporta ao cenário de ataque a direitos humanos e à sociedade civil e à destruição de políticas e programas sociais que buscavam endereçar as desigualdades durante os anos 2018-2021. No desenhar futuros, essa pauta também surgiu, destacando a democracia como elemento transversal inegociável para esse futuro.
*Jornalista e antropóloga com MBA em ESG. Trabalha com comunicação estratégica e em rede e projetos especiais nas áreas de filantropia, economia solidária, negócios de impacto, meio ambiente e políticas públicas, e não raro em intersecções entre elas.