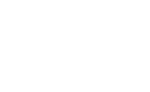Embora a construção de edifícios altos com grande densidade populacional contribua para a sustentabilidade ao otimizar o uso do solo, diminuir deslocamentos, incentivar construções eficientes e reduzir emissões, pode também comprometer o bem-estar urbano, ao gerar ilhas de calor, reduzir áreas úmidas e alterar o regime de ventos. Para que uma cidade compacta seja de fato sustentável, é preciso combinar densidade urbana com estratégias de adaptação e mitigação do clima, como corredores verdes, arborização, captação de água, e estudos de insolação e de ventilação urbana
Por Loyde Harbich*
A verticalização urbana, ou seja, a construção de edifícios altos e com grande densidade populacional, tem sido cada vez mais utilizada em resposta ao déficit habitacional, trazendo impactos significativos à qualidade de vida. Embora contribua para a sustentabilidade ao otimizar o uso do solo e incentivar construções eficientes, pode também comprometer o bem-estar urbano, sobretudo pelas implicações climáticas.
A verticalização promove o uso inteligente do solo, contribui para a preservação de áreas verdes e oferece solução viável à crise habitacional, proporcionando moradias próximas aos centros de trabalho. Isso evita longos deslocamentos, reduz congestionamentos e emissões de CO₂, além de aproveitar melhor a infraestrutura urbana existente.
Em um estudo sobre o movimento pendular em Goiânia que coordenei, observamos que cerca de 21.014 pessoas percorriam diariamente cerca de 53 quilômetros entre Senador Canedo e Goiânia por motivos profissionais. Esse trajeto gerava cerca de 57.799,67 kg de CO₂ diariamente, sendo 37.770,57 kg emitidos por automóveis. Reduzir esses deslocamentos impactaria positivamente as emissões e a qualidade de tempo das pessoas, que enfrentam estresse diário com congestionamentos e altos custos de manutenção e estacionamento em regiões centrais.
Ademais, sistemas de transporte coletivo eficientes como metrôs, veículos leves sobre trilhos, ônibus articulados, incentivo ao uso da bicicleta e à caminhabilidade são estratégias essenciais rumo a cidades carbono zero. O estudo em Goiânia mostrou que a troca modal, substituindo carro ou moto por ônibus, poderia gerar redução de até 58% nas emissões.
Essa solução, quando aplicada a áreas centrais degradadas — muitas vezes ocupadas por populações vulneráveis — contribui para a revitalização urbana e a reconversão de espaços ociosos em áreas de convivência e trabalho. A criação desses ambientes pode resgatar o conceito de “urbanidade material” do arquiteto e urbanista Manuel de Solà Morales, segundo o qual fachadas, texturas, mercados, ruínas e calçadas se tornam elementos sensoriais que ressignificam a vida urbana.
Sob o ponto de vista da qualidade e práticas sustentáveis das novas construções, edifícios altos tendem a ser mais eficientes e sustentáveis, pois normalmente visam atender normas e certificações nacionais e internacionais de sustentabilidade. Após a NBR 15575- 2013 entrar em vigor, os edifícios fizeram várias adequações, principalmente, com relação a resistência térmica da envoltória. Por exemplo, recomenda-se para as zonas bioclimáticas 3 a 8 (maior parte do Brasil), paredes pintadas de cor clara tenham transmitância menor ou igual a 3,7 W/(m2.K), e para paredes pintada de cores escuras, menor ou igual a 2,5 W/(m2.K). Para coberturas pintadas de cores claras devem ter transmitância menor ou igual a 2,3 W/(m2.K), e coberturas pintadas de cores escuras, menor ou igual a 1,5 W/(m2.K).
Neste caso, a indústria de construção teve que ser adaptada para atender as exigências e ainda as certificações internacionais como LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), AQUA-HQE (Alta Qualidade Ambiental), BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) e nacionais, como o Selo Casa Azul (instrumento de avaliação e certificação, criado pela Caixa em 2009, que visa promover a construção sustentável no Brasil), apoiam-se na NBR 15575 para fazer as suas análises.
As certificações verdes incentivam não só o uso de materiais adequados ao clima e sombreamento das aberturas se necessário, mas também o uso de sistemas eficientes para iluminação, elevadores e ar-condicionado e ainda a utilização de painéis solares. Salienta-se que para obter a máxima eficiência, o ideal é que seja realizada uma simulação termoenergética do edifícios para verificar o seu desempenho interno e o impacto no entorno.
No entanto, as legislações, normas e certificações verdes vigentes no Brasil precisam ser revisadas para serem mais alinhadas com as questões climáticas atuais ou adaptadas ao local. Por exemplo, o Selo Azul da Caixa considera como qualidade urbana e bem-estar a integração do empreendimento às vias de acesso, equipamentos e áreas verdes suficientes para promover a eficiência energética e conforto ambiental, atendendo minimamente a NBR 15575.
Na realidade, a adequação climática de um edifício alto vai além da qualidade da construção, devendo considerar como impacto ambiental todas as alterações climáticas no entorno imediato, tais como promoção do calor, redução das áreas úmidas, alterações no regime de ventos e redução do sombreamento. E ainda, propor estratégias de melhorias climáticas para que a cidade se torne mais resiliente.
Essa análise só é possível mediante a simulação computacional em softwares como Envi-Met, ferramentas UMEP para QGIS, entre outras. Promoção de praças em áreas privativas, jardins em terraços, paredes e telhados verdes, jardins de chuvas e incremento da arborização na via são elementos paisagísticos que vão além da estética e da sua função recreativas.
Por exemplo, o Birmann 32, projetado pelo Pei Partnership Architects, e Edifício Pátio Victor Malzoni do Bottini Rubin Arquitetos, na Av. Faria Lima, em São Paulo, possuem uma praça pública na área privada, permitindo que o pedestre cruze a quadra. Além da estética do paisagístico, essas praças são capazes de coletar água da chuva para irrigar o jardim e a horta que fornece alimentos para os funcionários do edifício. Soluções como essa podem integrar o sistema verde e azul da cidade, aplicando os benefícios térmicos. Saliento que esses edifícios utilizaram um vidro especial para minimizar os efeitos térmicos internos sem comprometer a iluminação natural.
Apesar da tecnologia existente na área da construção brasileira e todas as ferramentas computacionais para desenvolver um projeto de edifício que promova a resiliência das cidades, é comum que edifícios altos em áreas centrais que atendem minimamente as normas da prefeitura não se preocupem com a qualidade ambiental do entorno imediato.
Uma pesquisa realizada pela Universidade Mackenzie e Klimapolis na Favela de Paraisópolis observou que a área onde se encontra a Comunidade Fazendinha é 3ºC mais quente do que o interior da favela. Isso ocorre pois no entorno imediato às novas construções não possuem sombreamento adequado por árvores ou pergolados, e as ruas são bem largas, aumentado a incidência de radiação no asfalto que vem a refletir nas imediações.
Já no bairro ao lado, com casas e uma grande área verde dentro dos lotes, a temperatura máxima do ar encontrada foi 8ºC a menos que na Comunidade. Isso ocorreu, pois, as árvores são capazes de termorregular o ambiente, principalmente se forem plantadas diretamente no solo, além da capacidade da água infiltrar no mesmo. Salienta-se que o trabalho de mitigação do calor pelas árvores é feito tanto pela copa, que intercepta a radiação solar e promove a sombra na altura do pedestre, quanto pelos estômatos das folhas, que abrem para liberar o vapor de água (transpiração), e quando evapora, consome o calor do ambiente (calor latente), resfriando a folha e o ambiente ao redor.
Quando a verticalização do ambiente urbano não promove áreas multifuncionais como recreação, ponto de encontros e aglomerados de vegetação, principalmente arbórea, poderá ser insustentável em um futuro próximo.
Estudos realizados em cidades muito adensadas como Santos e Balneário Camboriú mostram que a verticalização intensifica a formação de ilhas de calor urbanas, com variações térmicas que podem chegar a 10,8 °C entre áreas densamente verticalizadas e zonas menos construídas, devido à redução do Fator de Visão do Céu (Sky View Factor) e ao aumento de superfícies impermeáveis, que dificultam a dissipação do calor e alteram o microclima local, principalmente em megacidades como São Paulo.
Os edifícios altos reduzem a incidência solar em áreas vizinhas, reduzindo o Fator de Visão do Céu, que indica uma redução na iluminação natural dos edifícios próximos. A falta de luz natural adequada em ambientes internos altera o ciclo circadiano das pessoas, prejudicando a saúde e bem-estar. Esse sombreamento excessivo prejudica o paisagismo, reduzindo as possibilidade de adaptação climática a partir da criação de corredores verdes capazes de conectar parques, praças, ruas e edifícios. Além disso, a impermeabilização do solo pode prejudicar os alagamentos nas cidades, prejudicando o ciclo hidrológico.
Para que a cidade compacta seja de fato sustentável é necessário que haja um equilíbrio, combinando uma densidade urbana com as estratégias de planejamento urbano que promovam adaptação e mitigação do clima, como corredores verdes, arborização, estudos de insolação e de ventilação urbana na implantação das novas torres.
As políticas públicas de uso e ocupação do solo precisam considerar o clima como peça-chave para que o desenvolvimento urbano seja de fato sustentável. Afinal, qual cidade que nós queremos? Uma que adensa sufocando ou uma integra que respira e floresce?
*Loyde Harbich é professora da Faculdade Arquitetura e Urbanismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie