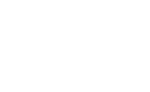Uma pergunta veio-me à mente em tempos recentes, em um mundo polarizado: os meus amigos têm esperança? Nenhum dos lados parece responder plenamente aos problemas que enfrentamos. A despeito dos antagonismos, é preciso reconhecer que já estamos, inevitavelmente, aliados: não por escolha, mas pela condição de um futuro comum
Por Yago Roese*
Nenhum de meus amigos, de esquerda ou de direita, conseguiu me transmitir esperança em suas falas. Todo mundo parecia acreditar que a coisa era séria e que ia de mal a pior. Ninguém tinha esperança. Talvez por não ver solução.
Os de direita estão trazendo uma visão de futuro na qual parecem esperançosos, ou estão agindo por medo? E os de esquerda: apresentam um plano que corresponda às profundas necessidades do nosso tempo, ou respondem às próprias ânsias à sua maneira, num mundo que tornou o ser social uma máquina-capital já exausta?
A vida me deu experiências suficientes, fora de ambos os círculos, para que eu pudesse ver o antagonismo em que nos encontramos: nenhum dos lados parece responder plenamente aos problemas que enfrentamos.
É o que o sociólogo Bruno Latour disse em Onde Aterrar? Como se orientar politicamente no Antropoceno:
“Ou bem negamos a existência do problema ou então tentamos aterrar. A partir de agora, é isso que nos divide, muito mais do que saber se somos de direita ou de esquerda.”
A esperança como ato revolucionário em tempos de divisão
Antagonicamente, eu me sinto esperançoso. E foi isso que me fez pensar: o que me faz diferente? Em mundos em que um dos opostos neoliberais é a “gratiluz”, seria demasiado superficial pensar que as coisas estão simplesmente bem e que nenhuma ação seria necessária. Então, por que eu tenho esperança?
Talvez os tempos na Amazônia, durante minhas imersões com os Huni Kuī, e em outras estâncias do Brasil e do mundo — dos círculos agroflorestais e ayahuasqueiros no Brasil a debates sobre o clima em Londres e na Finlândia, onde participei de fóruns e marchas pela preservação das florestas — tenham me feito perceber as entrelinhas de algo que poderia ser chamado de teia da vida. Estamos todos conectados nesse sistema vivo do qual fazemos parte, inclusive o invisível.
É ele, principalmente, quem traz esperança em tempos difíceis.
O invisível
Os xamãs conhecem bem o invisível. Eu poderia apenas citar Davi Kopenawa para delineá-lo:
“Na floresta, a ecologia somos nós, os humanos. Mas são também, tanto quanto nós, os xapiri, os animais, as árvores, os rios, os peixes, o céu, a chuva, o vento e o sol! É tudo o que veio à existência na floresta, longe dos brancos; tudo o que ainda não tem cerca. As palavras da ecologia são nossas antigas palavras, as que Omama [o demiurgo yanomami] deu a nossos ancestrais. Os xapiri defendem a floresta desde que ela existe. Sempre estiveram do lado de nossos antepassados, que por isso nunca a devastaram. Ela continua bem viva, não é? Os brancos, que antigamente ignoravam essas coisas, estão agora começando a entender. É por isso que alguns deles inventaram novas palavras para proteger a floresta. Agora dizem que são a gente da ecologia porque estão preocupados, porque sua terra está ficando cada vez mais quente. […] Somos habitantes da floresta. Nascemos no centro da ecologia e lá crescemos.”
Esse invisível que se abre para os xamãs — como em A Queda do Céu, de Davi Kopenawa e Bruce Albert — está, na verdade, disponível a todos. Relacionar-se com ele, digamos, faz parte da nossa humanidade. O invisível nos atravessa a todo instante. Todos o tocamos e somos tocados pelo que não podemos ver. É preciso aprender a percebê-lo. Como a esperança, é um hábito. E há inúmeras formas de relacionar-se com ele.
E é aqui, talvez, que a fé transpasse a ciência: o invisível é tão responsável pelo que está acontecendo quanto aquilo que conseguimos enxergar. A tarefa da ciência sempre foi a de trazer à luz o que antes era considerado desconhecido pela humanidade. No mundo de hoje, nesse sentido, a tarefa do sociólogo tem tanta importância quanto a de um xamã: expressar o que, para muitos, permanece invisível.
É por isso que é importante compreender Latour:
“Se a intenção é se reorientar em política, talvez seja sensato, como forma de garantir a continuidade entre as lutas passadas e as do futuro, não buscar nada que seja mais complicado do que uma oposição entre os dois termos. Não mais complicada, mas orientada de outra forma.”
Na atualidade, é preciso atravessar as disciplinas, rasgá-las e costurá-las à mão. O sociólogo não é menos importante que o antropólogo para o mesmo fim: compreender um mundo que já não é o mesmo; “não mais selvagem”, ou ao menos não como costumávamos acreditar. A sociedade, sob esse mesmo ponto de vista, também não é mais a mesma. É preciso abrir-se à multiplicidade que nos cerca para encontrar o novo.
Como o antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro postulou em Metafísicas Canibais:
“A troca, ou a circulação infinita de perspectivas — troca de troca, metamorfose de metamorfose, ponto de vista sobre ponto de vista, isto é: devir.”
Devir-brasileiro, por sinal. Um ponto para nós no pensamento contemporâneo: abrir-se à mudança diante do que antes parecia diferente e agora se revela igual em intensidade. Ou, ao menos, assumir que estamos todos juntos, lado a lado, aqui e agora. E reconhecer que precisamos lidar com isso.
É preciso escolher uma posição além dos antagonismos que outrora nos cercavam e que, agora, já não correspondem às nossas necessidades.
Esperança, alianças, futuro comum
Como disse a psicóloga e escritora Gení Núñez em Descolonizando os Afetos:
“É importante que tenhamos memória das pessoas, coisas e situações, mas também é importante o esquecimento. Deixar ir, deixar que a água siga seu fluxo, seu caminho de eterna mudança.”
Talvez seja tempo de levar a artesania dos afetos de Núñez para o contexto social-político:
Acolher as singularidades para criar relações de reciprocidade. Essa seria a revolução: buscar tecer novas histórias não como um modelo alternativo em oposição ao que está estabelecido, mas sim cultivar uma forma de não-modelo: um estado permanente de mudança que lida com nossas singularidades.
Em palavras conhecidas no campo político: criar novas alianças, ou, ao menos, reconhecer que já estamos, inevitavelmente, aliados; não por escolha, mas pela condição de um futuro comum.
Nesse futuro, de que lado estou? Nem direita, nem esquerda. Em frente!
E avante, Brasil!
*Yago Roese é publicitário, fundador e CEO da Purpy, consultoria global dedicada à regeneração. Com mais de 15 anos de experiência, atua na convergência entre sabedoria ancestral, design regenerativo e liderança executiva. É co-idealizador do projeto Aldeia do Futuro, iniciativa de apoio ao povo Huni Kuī, no Acre.
Bibliografia utilizada neste artigo:
KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: Palavras de um xamã yanomami. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
LATOUR, Bruno. Onde aterrar? Como se orientar politicamente no Antropoceno. São Paulo: Bazar do Tempo, 2020.
NÚÑEZ, Gení. Descolonizando os afetos. Rio de Janeiro: Editora Cobogó, 2023.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Metafísicas canibais: Elementos para uma antropologia pós-estrutural. São Paulo: Cosac Naify, 2009.