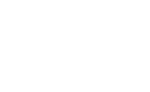A crescente demanda por minerais críticos, necessários para a transição energética, aumenta a preocupação sobre comunidades afetadas e exige maior participação popular. Conheça iniciativas ao redor do mundo que buscam ampliar o grau de democracia e justiça em processos decisórios
Por Mariana Galvão Lyra*
Ciao diretamente de Trento! Cheguei aqui há quase um mês e tenho o privilégio de passar meus dias refletindo, escrevendo e trocando ideias com outros acadêmicos sobre a minha ideia de projeto. Neste texto da série vou compartilhar em primeira mão trechos de uma fala que terei no colóquio “Ecologia sob diferentes perspectivas: comunidades, equidade de gênero, energia e democracia”, que ocorrerá no dia 31 de março.
Como garantir a democracia e a proteção durante a expansão de projetos de infraestrutura relacionados à transição energética? Como identificar e escalar práticas bem-sucedidas de participação pública? Quando e como a participação tem sido eficaz para grupos marginalizados? Quais são os exemplos de bases de dados provenientes da academia?
Um estudo da University of East Anglia analisou diferentes formas de participação pública em iniciativas energéticas, considerando quem organiza a participação e em que assuntos as pessoas estão se envolvendo. Esse trabalho levou à criação do Public Engagement Observatory, que já mapeou quase 400 casos no Reino Unido.
Entrevistei Jason Chilvers, professor responsável pelo observatório. O lado positivo do Observatório é o fato de que eles estão mapeando casos relacionados à energia e desenvolveram toda a metodologia e visualização dos resultados do zero. O projeto ainda está em andamento e acaba de receber um novo financiamento para aprimorar suas funcionalidades e capacidade de mapeamento. Por enquanto, os casos são e continuarão sendo focados exclusivamente no Reino Unido. Essa é uma das limitações da iniciativa, junto ao fato de que eles não estão particularmente interessados em democracia nem em formas institucionais para que as comunidades tenham sua voz ouvida.
Com dados coletados de diferentes partes do mundo, o Deliberative Democracy Lab, da Stanford University, é liderado pelo professor James Fishkin. Todos os dados foram obtidos por meio do DeliberativePolling®, uma metodologia desenvolvida pela equipe de Fishkin para pesquisa sobre democracia e opinião pública.
Mais recentemente, eles desenvolveram uma forma digital de coletar dados: a Stanford Online Deliberation Platform. Trata-se de uma plataforma de vídeo projetada para discussões em pequenos grupos, facilitando conversas estruturadas e equitativas, proporcionando melhores oportunidades para que os participantes se expressem.
Baseada na metodologia Deliberative Polling, a plataforma foi desenvolvida para escalar massivamente a deliberação, permitindo que um número ilimitado de participantes debata ao mesmo tempo em pequenos grupos. Ela já foi utilizada em diversos idiomas e em eventos nacionais no Chile, Canadá e Estados Unidos, por exemplo. Esse é um esforço impressionante de alcance global, e um exemplo de até onde uma metodologia pode chegar para criar seu próprio conjunto de dados e banco de informações.
Uma outra iniciativa importante e bastante abrangente no mapeamento de documentos e na catalogação de conflitos sociais relacionados a questões ambientais é o Environmental Justice Atlas. Trata-se de uma plataforma interativa coordenada e gerida por uma equipe de pesquisadores e ativistas. O conteúdo e os dados são fornecidos por centenas de colaboradores ao redor do mundo, que compartilham suas próprias histórias de resistência ou documentam o que testemunham.
O Atlas foi desenvolvido por Joan Martinez-Allier e Leah Temper, na Universitat Autònoma de Barcelona, e já mapeou 4.278 casos de injustiça ambiental pelo mundo, sendo 181 no Brasil. O projeto começou pequeno em 2011 e cresceu de forma constante, atraindo acadêmicos e ativistas interessados em explorar o Atlas e contribuir com novos casos para o banco de dados.
A plataforma permite o uso de diferentes filtros para restringir a base de dados de acordo com interesses específicos. Por exemplo, é possível selecionar a região, a indústria ou o tipo de conflito a ser exibido no Atlas. Os casos também são catalogados de acordo com datas de início e fim do conflito, impactos, intensidade do conflito, status do projeto e seus desfechos. A pessoa que insere os dados pode ainda indicar se um caso específico é considerado um sucesso em termos de justiça ambiental e se a justiça foi ou não alcançada. Ao aplicar o filtro de sucesso, obtive um total de 638 casos. Dessa forma, é possível identificar vitórias de base em todo o mundo.
Semelhante ao Atlas, é o Mapa de Conflitos de Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil, desenvolvido pela Fiocruz. O Mapa foi desenvolvido com o objetivo de tornar públicas vozes que lutam por justiça ambiental de populações frequentemente discriminadas e invisibilizadas pelas instituições e pela mídia. Existem 652 conflitos nacionais atualmente cadastrados no mapa.
Por fim, há mais um banco de dados de origem acadêmica: o ETM List (em português, inventário de minerais para a transição energética), e para acessá-lo é preciso solicitar à universidade de Queensland. Ele foi utilizado para analisar a interseção entre esses minerais e territórios camponeses e indígena.
Em um artigo de análise, Owen e colegas (2022) identificaram 5.097 projetos associados a minerais críticos para a transição energética e os geolocalizaram em relação a indicadores como presença indígena, modificação humana do solo, produção de alimentos, risco hídrico, conflitos e medidas institucionais para licenciamento, consulta e consentimento.
Os autores argumentam que novos projetos de infraestrutura envolvendo minerais essenciais para a transição energética podem “inaugurar uma nova geração de projetos de mineração, nos quais os objetivos globais de sustentabilidade e os impactos locais das operações se tornarão fundamentalmente incompatíveis” (tradução livre, p. 206[1]).
Esse é um esforço significativo para antecipar impactos potenciais sobre comunidades marginalizadas à medida que os projetos da transição energética são desenvolvidos e implementados.
A partir dos exemplos descritos acima, percebe-se que, até onde sei, não há um banco de dados acadêmico, de alcance global, focado em reunir casos em que comunidades marginalizadas conseguiram expressar suas preocupações de forma bem-sucedida por vias institucionais. O Environmental Justice Atlas é o que chega mais perto dessa realidade, porém contempla amplamente iniciativas e movimentos que não necessariamente lançaram mão de vias institucionais. Na verdade, movimentos sociais, protestos e afins geralmente são conhecidos por utilizarem formas de ação não convencionais e, portanto, distantes dos caminhos tradicionais da justiça procedimental, por exemplo.
Por que isso é relevante e por que agora?
As literaturas sobre planejamento ambiental e participação há tempos discutem por que, quem, como e quando a participação acontece. No entanto, as evidências sobre os efeitos da participação da sociedade civil nos processos de tomada de decisão são mistas, fragmentadas e inconclusivas. Não há garantias de que arranjos deliberativos de governança, por exemplo, necessariamente levem a melhores resultados.
A participação pública nos processos de Avaliação de Impacto Ambiental serve a múltiplos objetivos. Um estudo anterior[2] mapeou esses objetivos sob uma racionalidade normativa, destacando aqueles mais alinhados aos ideais democráticos. Foi evidenciado que um dos objetivos fundamentais da participação baseia-se na crença de que os membros menos poderosos da sociedade são frequentemente excluídos de uma participação “significativa” na tomada de decisão.
Discussões iniciais já apontaram que, mesmo que as abordagens dominantes de participação pública enfatizem a inclusão, todas as formas de engajamento público são excludentes de alguma maneira. Como afirmado por pesquisadores da área: “As desigualdades e exclusões (…) são sistêmicas” (tradução livre p. 20-21[3]).
Se as exclusões são sistêmicas, como podemos construir uma abordagem sistêmica para enfrentar práticas excludentes dentro de processos institucionais de participação?
Além disso, o que acontecerá no futuro próximo, quando a transição energética precisar acontecer de forma rápida e justa ao mesmo tempo? Os dados já apontam que os esforços para combater a crise climática podem agravar crises sociais e ambientais.
Se as preocupações das comunidades forem abordadas desde cedo, se a tomada de decisão for mais inclusiva e se os benefícios da transição forem distribuídos de forma equitativa, poderemos acelerar a transição energética de maneira mais fluida, minimizando conflitos e resistências.
Agora parto para uma pequena série de visitas em algumas universidades italianas e volto no mês que vem para contar como andam os projetos sobre democracia por aqui. A presto!
*Mariana Galvão Lyra, colunista da Página22, é pesquisadora da Escola de Negócios da LUT University, Finlândia
[1] Owen, J. R., Kemp, D., Lechner, A. M., Harris, J., Zhang, R., & Lèbre, É. (2023). Energy transition minerals and their intersection with land-connected peoples. Nature Sustainability, 6(2), 203-211.
[2] Glucker, Anne N., et al. “Public participation in environmental impact assessment: why, who and how?.” Environmental impact assessment review 43 (2013): 104-111;
[3] Chilvers, J., Stephanides, P., Pallett, H. & Hargreaves, T. (2023) Mapping
Public Engagement with Energy, Climate Change and Net Zero. London: UK Energy Research Centre.