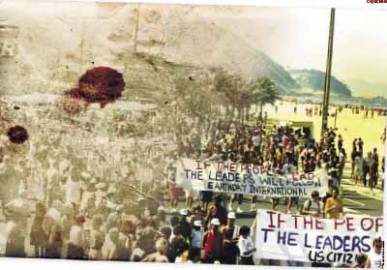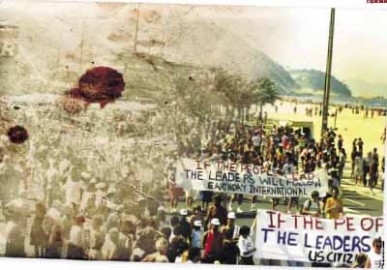Por Amália Safatle
Após avanços inquestionáveis, uma reinvenção do movimento é o que propõe a maioria dos entrevistados por PÁGINA 22. No momento em que a sustentabilidade torna-se uma causa grande demais para caber no círculo onde nasceu, novas práticas e visões são necessárias para que a identidade se preserve
“Quase 70% da área do Brasil é intocada em unidades de conservação, reservas, áreas de preservação. Estou preocupado com a extinção da área agricultável no País.” Com essas frases o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, arrancou aplausos no auditório no World Trade Center, em São Paulo, enquanto luzes se acendiam sobre a eufórica platéia formada por representantes do maior setor produtivo brasileiro. A fala do ministro abria o 7º Congresso da Associação Brasileira de Agribusiness, com o tema “Agronegócio e Sustentabilidade”.
Mas, mais que esses dizeres na faixa pendurada no palco, o pano de fundo do encontro era o inconformismo do setor com o Decreto nº 6.514, que exige a recomposição de reserva legal e áreas de proteção permanente das propriedades rurais. Um novo êxtase tomou conta dos participantes quando Assuero Veronez, presidente da comissão de meio ambiente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), fechou sua apresentação com uma imagem do Cristo Redentor: em topo de morro, até ele está ilegal. Isso para dizer: “Nunca houve tanta insegurança institucional para os produtores: é reforma agrária, são os quilombolas, os territórios indígenas, as áreas de proteção ambiental”.
Veronez criticou o excesso de ações de comando e controle, acusou a formação de uma “muralha verde” nas Unidades de Conservação e denunciou o que chama de “farsa do desenvolvimento sustentável”, em que o equilíbrio do triple bottom line teria sucumbido ao peso maior do vértice ambiental. (Dias depois, o lobby agrícola conseguiu do ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, alterações no decreto, tais como crédito e mais tempo aos produtores para se adequarem à lei, além da possibilidade de compensar reservas legais em outras propriedades do mesmo bioma, inclusive com plantio de espécies exóticas.)
Isso mesmo após Eduardo Assad, chefe-geral da Embrapa Agropecuária, mostrar na ponta do lápis o prejuízo estimado em R$ 6,7 bilhões por ano para o agronegócio por conta das mudanças climáticas em 2020, no mais otimista dos cenários. Também pareceu em vão a “aula” de Virgilio Viana, diretor-geral da Fundação Amazonas Sustentável, sobre os serviços ambientais que as florestas prestam ao agronegócio, na manutenção do equilíbrio climático e na formação de chuvas que irrigam plantações no Sul e Sudeste.
Explicou que pagar por sua conservação é também investir na produtividade agrícola – ou melhor, em sua sustentabilidade. Mas, na mediação entre palestrantes, o jornalista Paulo Henrique Amorim reduziu o instrumento de pagamentos por serviços ambientais a “uma espécie de CPMF da chuva”, para tirar gargalhadas da plateia e encerrar o assunto.
Como bem notou um consultor presente ao evento,o “e” entre “agronegócio” e “sustentabilidade”, que deram título ao encontro, expressa como ainda são vistos como separados, sem integração – embora o primeiro tenha incorporado a segunda em sua agenda, muitas vezes na forma de uma feroz reação por parte das alas mais conservadoras.
Quando o ministro da Agricultura usa o termo “extinção”, tão próprio do linguajar ecologista, reforça a tese da apropriação do significante, mas não necessariamente do significado. O mesmo ocorre quando a Associação Nacional para Difusão de Adubos publica anúncios em jornal, como fez recentemente, falando de “gerações atuais e futuras”. A expressão extraída de Nosso Futuro Comum, relatório histórico da Comissão Brundtland que em 1987 cunhou a acepção de desenvolvimento sustentável, é usada para vender mais adubo, sob o argumento de que no mundo nascem 135 milhões de crianças por ano.
Quem olha o copo e o vê meio cheio reconhece o sucesso do ativismo social e ambiental, que nas últimas décadas lutou para que a temática entrasse no radar do setor produtivo, com CNA e Greenpeace, por exemplo, sentando-se na mesma sala e contrapondo suas ideias. Reações fortes contra o socioambientalismo seriam a prova de que as ações têm incomodado e surtido algum efeito.
Quem o vê meio vazio enxerga a necessidade de revisar o movimento e suas estratégias, para que o significado não se dilua em apropriações pelo mainstream, eventualmente usadas para amortecer as ações que pedem profundas transformações na sociedade.
Mas, nessa revisão de caminhos, os próprios ambientalistas perguntam para onde ir. Entre quem já foi ou tornou respeitado observador, PÁGINA22 colheu 13 depoimentos, vários indicando respostas, que passam por diagnósticos e autocríticas. Institucionalização excessiva do movimento, acomodação, falta de governança e transparência, baixa capilaridade, necessidade de modernizar as formas de comunicação, de renovar quadros, de arejar ideias, rever dogmas e, antes de tudo, mudar a maneira de ser. Uma reinvenção do movimento é o que propõe a maioria. Se conquistas importantes foram alcançadas com o copo meio cheio, é de se imaginar o que será obtido caso a outra metade seja completada.
ANTES QUE O AMBIENTALISMO MORRA
Aron Belinky lembra quando colava decalques nos toalheiros dos banheiros de restaurantes para alertar as pessoas sobre a preservação ambiental. Uma comunicação, digamos, de “guerrilha”, era o pouco que muitos ativistas tinham à mão no Brasil da década de 70, além do livro Antes Que a Natureza Morra, de Jean Dorst, ”bíblia” do movimento grassroots – baseado no voluntariado e em ações de rua. Belinky, escoteiro como muitos ambientalistas de sua geração, pertencia à ONG Sociedade Brasileira da Fauna e da Flora, fundada por um fabricante de luminosos preocupado com o verde, que arregimentou uma moçada em torno da causa.
Em um rápido filme que passa em sua cabeça, Belinky vê na década de 80 o florescer de um movimento que coincidia com a abertura política no Brasil, a eleição de Fabio Feldmann para a Câmara dos Deputados, o lançamento do Movimento Defenda São Paulo e a Constituinte – que completa 20 anos em outubro próximo –, até desembocar na efervescente Rio-92.
Hoje Belinky coordena o grupo de ONGs que representa a sociedade civil nas discussões sobre o conjunto de normas ISO 26000, e se recorda da ressaca que tomou conta do movimento após o encontro histórico no Rio. “Todo mundo começou a falar: ‘Chega de ecochato, já tô legal de mico-leão-dourado’.
A sociedade passou a reconhecer a importância da mensagem, mas o movimento não conseguiu imprimir um senso de urgência”, diz. Se a meta, agora, for imprimir esse senso e conquistar finalmente o mainstream, ele questiona: que dilemas isso coloca para socioambientalismo? Vai se auto-extinguir? O quanto triunfar mexe com o status quo das entidades que compõem o movimento socioambiental e seus participantes? “É o caso das instituições voltadas para o combate da pobreza: se a pobreza acabar, como sobreviverão?”, exemplifica.
DO TAMANHO DO MUNDO
A questão é que a problemática ambiental assumiu tamanha proporção, exponenciada pelo aquecimento global, que a causa não cabe mais no círculo do ambientalismo, tal qual um adolescente em roupas de criança. “Diante disso, o que começou como luta de alguns precisa passar por uma inflexão”, afirma a senadora e ex-ministra Marina Silva. “Não podemos mais ser um grupo, temos de lutar para ser um todo.
E lutar para ser um todo significa, de alguma forma, a diluição, mas sem a perda da identidade daqueles que se agruparam, em um determinado momento, para questionar e para resistir.” Para Marcio Santilli, coordenador de mudanças climáticas do Instituto Socioambiental (ISA), se existe uma crise no movimento, essa é uma crise de crescimento.
“O clima retira as questões socioambientais do gueto e as leva para o centro de uma discussão civilizatória.” (leia “A causa em busca de um movimento“) Agora, diz Marina, é a hora de expandir o socioambientalismo para dentro das empresas, da academia, da política, das artes, da filosofia, de todos os espaços.
“Com essa diluição, pode parecer que as coisas já não são palpáveis. Às vezes a gente questiona a tecnologia ou os processos em si, quando o grande questionamento deve ser sobre em quem precisamos nos tornar para mudar a forma de agir”, diz Marina. Como, na carta 13 do tarô, a morte não significa necessariamente o fim, mas o enterro de uma fase para dar início a outra, na forma de uma transformação inevitável, ou mesmo um rejuvenescimento.
Seja na apropriação indevida da mensagem socioambiental, seja na sua positiva disseminação para fora do “gueto”, uma perda de protagonismo é sentida por pessoas como Sergio Leitão, diretor de políticas públicas do Greenpeace. “A bandeira da sustentabilidade foi tomada da nossa mão. De agora em diante, se a gente quiser dividir a cena, precisa ter competência para fazer parte das ideias que a gente mesmo lançou”, afirma. “Para isso, precisamos nos renovar.”
Um método seria começar pela revisão da própria causa e dos objetivos, e em seguida repensar as formas de alcançá-los. Segundo Belinky, o movimento institucionalizou- se de tal forma em entidades e redes, e tornou-se tão pragmático que, embora tenha havido um ganho de profissionalismo, muitas organizações têm o fim em si mesmas. “O seu objetivo é essencialmente lutar pela própria sobrevivência e apenas prestar serviços na área socioambiental.”
ESTRATÉGIA SUICIDA
O mais novo desafio que o professor de História Ambiental da Universidade Federal do Rio de Janeiro, José Augusto Pádua, enxerga é responder de forma muito realista e propositiva a um fenômeno com o qual pode-se não concordar, mas que considera legítimo no Brasil: o desejo de crescimento e de consumo.
“Dizer ‘não, não e não’ e se eximir da responsabilidade de apontar alternativas é uma estratégia suicida. Não queremos entrar em uma ditadura ambientalista.” É diferente de países como a Inglaterra, diz ele, onde discutir limites é realmente necessário, mas isso não pode aplicar-se a toda a sociedade brasileira, e sim a uma pequena e privilegiada parte dela.
O que tanto Pádua como Leitão propõem é que o socioambientalismo mantenha como meta mudanças profundas de paradigma, mas que a curto prazo busque transformações graduais e flexíveis nessa direção, por meio de uma comunicação capaz de mobilizar as pessoas, e não afastá-las. (Leia mais em “Ecoassombração“) “O Brasil não quer ouvir ‘não’, o Brasil bossa-nova é o país que diz ‘sim’. Isso não significa abrir mão da posição”, frisa Leitão. Ele exemplifica com um tema caro ao Greenpeace, a campanha contra a energia nuclear. “A geração nascida dos anos 80 não vivenciou Chernobyl (o acidente da usina nuclear na Ucrânia) e nem sabe de cor, como a anterior, a letra de Rosa de Hiroshima.
‘Então, não basta dizer que somos contra e ponto final, mas por que, como, quais as alternativas.” Pádua critica, por exemplo, a campanha negativista contra os biocombustíveis, que em sua opinião são uma alternativa muito importante no combate à mudança climática e não pode ser rechaçada de cara.
E que é preciso, sim, aprimorar a forma de produzi-lo Los, uma pressão que depende da participação do movimento. Segundo ele, o ajuste estrutural-ecológico de que o mundo necessita sem dúvida requer mais consciência e um novo comportamento das pessoas, mas também mudanças no padrão produtivo, por exemplo, com a chamada desmaterialização da economia, por meio da fabricação de produtos menores, com menor emprego de recursos naturais e energéticos. E não simplesmente com a negação da produção e do consumo.
São dogmas que os próprios ambientalistas têm questionado. Eduardo Viola, hoje professor da Universidade de Brasília, pressupõe a tecnologia como questão-chave com a qual o movimento deve lidar, pois a considera central na busca de soluções para a sustentabilidade. “O ambientalista precisa ser mais tecnológico e pró-ciência e menos utópico, doutrinário e ideológico. Thais Corral, que preside o Conselho Diretor da Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Lideranças (ABDL), também acredita que nada mais será conquistado sem tecnologia e ciência.
“Por mais boa vontade das pessoas em não usar o carro, a questão do transporte urbano e das emissões e poluição, por exemplo, vai exigir inovações dos engenheiros, da indústria automobilística, da administração do orçamento municipal.” Eduardo Viola defende que os ambientalistas revejam suas posições sobre tabus como energia nuclear, hidrelétricas e transgênicos, dado que é urgente “descarbonizar” a economia, e afirma que o desconhecimento sobre os riscos da biotecnologia é cada vez menor.
Quanto às incertezas que perduram, ele responde: “A história da vida na Terra é cataclísmica e a civilização está baseada no risco. O que é preciso é administrá-lo e moderá-lo, mas nunca extingui-lo. O ambientalista precisa saber que não pode ter tudo”. Para ele, embora muitas dessas revisões já aconteçam em países desenvolvidos, no Brasil estão atrasadas em razão do baixo nível educacional e científico do País.
Fabio Feldmann, secretário-executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, diz que é contrário à energia nuclear e tem dúvidas sobre a biotecnologia.
“Mesmo assim, a gente precisa estar preparado para rever opiniões e não mais enfrentar a discussão com a sociedade de maneira simplista”.
Resta saber o quanto essa carga de inovação no pensar, agir e comunicar-se é possível sob o business as usual das organizações.
QUE MOVIMENTO?
Maristela Bernardo, jornalista, socióloga e consultora independente, tem um primo que é padre, em São Miguel Paulista, periferia leste da cidade de São Paulo, e engajado com a temática ambiental. Nas novenas rezadas com a comunidade, já levou Fabio Feldmann, o jornalista André Trigueiro e ela mesma para falar de meio ambiente. As palestras atraem pessoas que chegam em casa do trabalho às 8, 9 horas da noite, após enfrentar horas de trânsito em precários sistemas de transporte coletivo.
“Quando a gente vê 400, 500 pessoas na igreja, atentas ao tema ambiental, dá pra sentir a orfandade delas”, diz Maristela. Estão procurando alguém que lhes dê uma senha para agirem diante de temas como o aquecimento global. “E as ONGs não têm feito isso, porque não é mais da sua natureza. Elas se institucionalizaram tanto, que atuam apenas em uma negociação entre as elites”, afirma.
Maristela acredita que não há crise no movimento socioambiental simplesmente porque ele não existe mais. Para ela, formou-se uma nova elite de poder, a das ONGs, descolada das bases e acomodada em seu status quo. “Não há disposição nem estrutura para as organizações se capilarizarem na sociedade”, afirma.
“É preocupante, porque a questão socioambiental não terá solução sem intervenção e participação das massas.” Frank Guggenheim, que há três meses deixou a diretoria executiva do Greenpeace e hoje medica nas comunidades ribeirinhas da Amazônia, alerta: “É muito importante que os líderes de ONGs que estão sentados às mesas mantenham ligação com suas bases”.
Mas essa não é a sua única observação. Baseado em exemplo próprio, Guggenheim defende a renovação do poder nas organizações. “Quando assumi, queria ficar por seis anos. Um ano antes de completar o período, anunciei minha saída para iniciar o processo de procura do sucessor”. O escolhido foi Marcelo Furtado, já pertencente ao Greenpeace.
Assim como melhor governança, acrescenta Guggenheim, a busca deve se dar também por mais transparência e prestação de contas, de forma a obter legitimidade e credibilidade. Com isso, diz Feldmann, é mais fácil obter recursos para campanhas, renovação de quadros, melhorias de gestão e retenção de talentos com melhores salários, gerando um círculo virtuoso, inclusive com produção de conteúdo e de informação qualificada para a sociedade. “Uma agenda para o Brasil são ONGs com constituency, com 400 mil, 500 mil pessoas físicas filiadas em torno do mesmo objetivo.” Mas, além do fato de que aqui não há o hábito de se destinar todo mês uma contribuição às organizações – excetuando-se as de caridade –, Maristela lembra que as organizações foram criadas em época de farto recurso da cooperação internacional, o que gerou acomodação, em vez de se investir em uma cultura de sustentação pulverizada.
Com 38 mil colaboradores no Brasil (no mundo são 3 milhões) que fazem sua doação porque, teoricamente, acreditam na causa, o Greenpeace é, na opinião de Pedro Roberto Jacobi, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP, uma entidade que faz diferença, pois consegue um mínimo de capilaridade e diálogo horizontal.
Hoje, com menor fluxo de recursos externos, as entidades de forma geral estão dependentes de dinheiro público e da iniciativa privada – e descapitalizadas. Ana Cristina Barros, representante da The Nature Conservancy no Brasil, listou apenas 23 ONGs com orçamento superior a R$ 500 mil anuais, ao mesmo tempo que o cenário mais complexo e que demanda inovação de toda ordem exige profissionais mais capacitados.
Na relação com o setor privado, Guggenheim afirma que sempre há risco de cooptação. “Um acordo nunca vai sair como os ambientalistas gostariam, então é preciso saber ceder as coisas certas, não se render a compromissos podres e denunciar as falsas promessas.” Monica Borba, coordenadora de projetos da ONG 5 Elementos e especializada em educação ambiental, pondera que hoje as empresas têm uma postura muito diferente. “Desenvolvo projetos há 15 anos, e, sempre que começava alguma mudança de consciência, a empresa encerrava o contrato. Agora não é mais assim.”
Mas, antes de encarar o relacionamento com o setor privado ou o público, cabe aos socioambientalistas pensar no quanto estão articulados entre si, diz Jacobi. Sem uma união interna em torno de objetivos comuns, superiores à necessidade de buscar a própria sobrevivência, a bandeira por eles levantada não voltará sozinha às suas mãos.
A busca pela sustentabilidade teve uma origem. Não perder esse foco original é cuidar para manter firme o mastro, ainda que a bandeira possa – e deva – ser empunhada por todos.[:en]Após avanços inquestionáveis, uma reinvenção do movimento é o que propõe a maioria dos entrevistados por PÁGINA 22. No momento em que a sustentabilidade torna-se uma causa grande demais para caber no círculo onde nasceu, novas práticas e visões são necessárias para que a identidade se preserve
“Quase 70% da área do Brasil é intocada em unidades de conservação, reservas, áreas de preservação. Estou preocupado com a extinção da área agricultável no País.” Com essas frases o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, arrancou aplausos no auditório no World Trade Center, em São Paulo, enquanto luzes se acendiam sobre a eufórica platéia formada por representantes do maior setor produtivo brasileiro. A fala do ministro abria o 7º Congresso da Associação Brasileira de Agribusiness, com o tema “Agronegócio e Sustentabilidade”.
Mas, mais que esses dizeres na faixa pendurada no palco, o pano de fundo do encontro era o inconformismo do setor com o Decreto nº 6.514, que exige a recomposição de reserva legal e áreas de proteção permanente das propriedades rurais. Um novo êxtase tomou conta dos participantes quando Assuero Veronez, presidente da comissão de meio ambiente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), fechou sua apresentação com uma imagem do Cristo Redentor: em topo de morro, até ele está ilegal. Isso para dizer: “Nunca houve tanta insegurança institucional para os produtores: é reforma agrária, são os quilombolas, os territórios indígenas, as áreas de proteção ambiental”.
Veronez criticou o excesso de ações de comando e controle, acusou a formação de uma “muralha verde” nas Unidades de Conservação e denunciou o que chama de “farsa do desenvolvimento sustentável”, em que o equilíbrio do triple bottom line teria sucumbido ao peso maior do vértice ambiental. (Dias depois, o lobby agrícola conseguiu do ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, alterações no decreto, tais como crédito e mais tempo aos produtores para se adequarem à lei, além da possibilidade de compensar reservas legais em outras propriedades do mesmo bioma, inclusive com plantio de espécies exóticas.)
Isso mesmo após Eduardo Assad, chefe-geral da Embrapa Agropecuária, mostrar na ponta do lápis o prejuízo estimado em R$ 6,7 bilhões por ano para o agronegócio por conta das mudanças climáticas em 2020, no mais otimista dos cenários. Também pareceu em vão a “aula” de Virgilio Viana, diretor-geral da Fundação Amazonas Sustentável, sobre os serviços ambientais que as florestas prestam ao agronegócio, na manutenção do equilíbrio climático e na formação de chuvas que irrigam plantações no Sul e Sudeste.
Explicou que pagar por sua conservação é também investir na produtividade agrícola – ou melhor, em sua sustentabilidade. Mas, na mediação entre palestrantes, o jornalista Paulo Henrique Amorim reduziu o instrumento de pagamentos por serviços ambientais a “uma espécie de CPMF da chuva”, para tirar gargalhadas da plateia e encerrar o assunto.
Como bem notou um consultor presente ao evento,o “e” entre “agronegócio” e “sustentabilidade”, que deram título ao encontro, expressa como ainda são vistos como separados, sem integração – embora o primeiro tenha incorporado a segunda em sua agenda, muitas vezes na forma de uma feroz reação por parte das alas mais conservadoras.
Quando o ministro da Agricultura usa o termo “extinção”, tão próprio do linguajar ecologista, reforça a tese da apropriação do significante, mas não necessariamente do significado. O mesmo ocorre quando a Associação Nacional para Difusão de Adubos publica anúncios em jornal, como fez recentemente, falando de “gerações atuais e futuras”. A expressão extraída de Nosso Futuro Comum, relatório histórico da Comissão Brundtland que em 1987 cunhou a acepção de desenvolvimento sustentável, é usada para vender mais adubo, sob o argumento de que no mundo nascem 135 milhões de crianças por ano.
Quem olha o copo e o vê meio cheio reconhece o sucesso do ativismo social e ambiental, que nas últimas décadas lutou para que a temática entrasse no radar do setor produtivo, com CNA e Greenpeace, por exemplo, sentando-se na mesma sala e contrapondo suas ideias. Reações fortes contra o socioambientalismo seriam a prova de que as ações têm incomodado e surtido algum efeito.
Quem o vê meio vazio enxerga a necessidade de revisar o movimento e suas estratégias, para que o significado não se dilua em apropriações pelo mainstream, eventualmente usadas para amortecer as ações que pedem profundas transformações na sociedade.
Mas, nessa revisão de caminhos, os próprios ambientalistas perguntam para onde ir. Entre quem já foi ou tornou respeitado observador, PÁGINA22 colheu 13 depoimentos, vários indicando respostas, que passam por diagnósticos e autocríticas. Institucionalização excessiva do movimento, acomodação, falta de governança e transparência, baixa capilaridade, necessidade de modernizar as formas de comunicação, de renovar quadros, de arejar ideias, rever dogmas e, antes de tudo, mudar a maneira de ser. Uma reinvenção do movimento é o que propõe a maioria. Se conquistas importantes foram alcançadas com o copo meio cheio, é de se imaginar o que será obtido caso a outra metade seja completada.
ANTES QUE O AMBIENTALISMO MORRA
Aron Belinky lembra quando colava decalques nos toalheiros dos banheiros de restaurantes para alertar as pessoas sobre a preservação ambiental. Uma comunicação, digamos, de “guerrilha”, era o pouco que muitos ativistas tinham à mão no Brasil da década de 70, além do livro Antes Que a Natureza Morra, de Jean Dorst, ”bíblia” do movimento grassroots – baseado no voluntariado e em ações de rua. Belinky, escoteiro como muitos ambientalistas de sua geração, pertencia à ONG Sociedade Brasileira da Fauna e da Flora, fundada por um fabricante de luminosos preocupado com o verde, que arregimentou uma moçada em torno da causa.
Em um rápido filme que passa em sua cabeça, Belinky vê na década de 80 o florescer de um movimento que coincidia com a abertura política no Brasil, a eleição de Fabio Feldmann para a Câmara dos Deputados, o lançamento do Movimento Defenda São Paulo e a Constituinte – que completa 20 anos em outubro próximo –, até desembocar na efervescente Rio-92.
Hoje Belinky coordena o grupo de ONGs que representa a sociedade civil nas discussões sobre o conjunto de normas ISO 26000, e se recorda da ressaca que tomou conta do movimento após o encontro histórico no Rio. “Todo mundo começou a falar: ‘Chega de ecochato, já tô legal de mico-leão-dourado’.
A sociedade passou a reconhecer a importância da mensagem, mas o movimento não conseguiu imprimir um senso de urgência”, diz. Se a meta, agora, for imprimir esse senso e conquistar finalmente o mainstream, ele questiona: que dilemas isso coloca para socioambientalismo? Vai se auto-extinguir? O quanto triunfar mexe com o status quo das entidades que compõem o movimento socioambiental e seus participantes? “É o caso das instituições voltadas para o combate da pobreza: se a pobreza acabar, como sobreviverão?”, exemplifica.
DO TAMANHO DO MUNDO
A questão é que a problemática ambiental assumiu tamanha proporção, exponenciada pelo aquecimento global, que a causa não cabe mais no círculo do ambientalismo, tal qual um adolescente em roupas de criança. “Diante disso, o que começou como luta de alguns precisa passar por uma inflexão”, afirma a senadora e ex-ministra Marina Silva. “Não podemos mais ser um grupo, temos de lutar para ser um todo.
E lutar para ser um todo significa, de alguma forma, a diluição, mas sem a perda da identidade daqueles que se agruparam, em um determinado momento, para questionar e para resistir.” Para Marcio Santilli, coordenador de mudanças climáticas do Instituto Socioambiental (ISA), se existe uma crise no movimento, essa é uma crise de crescimento.
“O clima retira as questões socioambientais do gueto e as leva para o centro de uma discussão civilizatória.” (leia “A causa em busca de um movimento“) Agora, diz Marina, é a hora de expandir o socioambientalismo para dentro das empresas, da academia, da política, das artes, da filosofia, de todos os espaços.
“Com essa diluição, pode parecer que as coisas já não são palpáveis. Às vezes a gente questiona a tecnologia ou os processos em si, quando o grande questionamento deve ser sobre em quem precisamos nos tornar para mudar a forma de agir”, diz Marina. Como, na carta 13 do tarô, a morte não significa necessariamente o fim, mas o enterro de uma fase para dar início a outra, na forma de uma transformação inevitável, ou mesmo um rejuvenescimento.
Seja na apropriação indevida da mensagem socioambiental, seja na sua positiva disseminação para fora do “gueto”, uma perda de protagonismo é sentida por pessoas como Sergio Leitão, diretor de políticas públicas do Greenpeace. “A bandeira da sustentabilidade foi tomada da nossa mão. De agora em diante, se a gente quiser dividir a cena, precisa ter competência para fazer parte das ideias que a gente mesmo lançou”, afirma. “Para isso, precisamos nos renovar.”
Um método seria começar pela revisão da própria causa e dos objetivos, e em seguida repensar as formas de alcançá-los. Segundo Belinky, o movimento institucionalizou- se de tal forma em entidades e redes, e tornou-se tão pragmático que, embora tenha havido um ganho de profissionalismo, muitas organizações têm o fim em si mesmas. “O seu objetivo é essencialmente lutar pela própria sobrevivência e apenas prestar serviços na área socioambiental.”
ESTRATÉGIA SUICIDA
O mais novo desafio que o professor de História Ambiental da Universidade Federal do Rio de Janeiro, José Augusto Pádua, enxerga é responder de forma muito realista e propositiva a um fenômeno com o qual pode-se não concordar, mas que considera legítimo no Brasil: o desejo de crescimento e de consumo.
“Dizer ‘não, não e não’ e se eximir da responsabilidade de apontar alternativas é uma estratégia suicida. Não queremos entrar em uma ditadura ambientalista.” É diferente de países como a Inglaterra, diz ele, onde discutir limites é realmente necessário, mas isso não pode aplicar-se a toda a sociedade brasileira, e sim a uma pequena e privilegiada parte dela.
O que tanto Pádua como Leitão propõem é que o socioambientalismo mantenha como meta mudanças profundas de paradigma, mas que a curto prazo busque transformações graduais e flexíveis nessa direção, por meio de uma comunicação capaz de mobilizar as pessoas, e não afastá-las. (Leia mais em “Ecoassombração“) “O Brasil não quer ouvir ‘não’, o Brasil bossa-nova é o país que diz ‘sim’. Isso não significa abrir mão da posição”, frisa Leitão. Ele exemplifica com um tema caro ao Greenpeace, a campanha contra a energia nuclear. “A geração nascida dos anos 80 não vivenciou Chernobyl (o acidente da usina nuclear na Ucrânia) e nem sabe de cor, como a anterior, a letra de Rosa de Hiroshima.
‘Então, não basta dizer que somos contra e ponto final, mas por que, como, quais as alternativas.” Pádua critica, por exemplo, a campanha negativista contra os biocombustíveis, que em sua opinião são uma alternativa muito importante no combate à mudança climática e não pode ser rechaçada de cara.
E que é preciso, sim, aprimorar a forma de produzi-lo Los, uma pressão que depende da participação do movimento. Segundo ele, o ajuste estrutural-ecológico de que o mundo necessita sem dúvida requer mais consciência e um novo comportamento das pessoas, mas também mudanças no padrão produtivo, por exemplo, com a chamada desmaterialização da economia, por meio da fabricação de produtos menores, com menor emprego de recursos naturais e energéticos. E não simplesmente com a negação da produção e do consumo.
São dogmas que os próprios ambientalistas têm questionado. Eduardo Viola, hoje professor da Universidade de Brasília, pressupõe a tecnologia como questão-chave com a qual o movimento deve lidar, pois a considera central na busca de soluções para a sustentabilidade. “O ambientalista precisa ser mais tecnológico e pró-ciência e menos utópico, doutrinário e ideológico. Thais Corral, que preside o Conselho Diretor da Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Lideranças (ABDL), também acredita que nada mais será conquistado sem tecnologia e ciência.
“Por mais boa vontade das pessoas em não usar o carro, a questão do transporte urbano e das emissões e poluição, por exemplo, vai exigir inovações dos engenheiros, da indústria automobilística, da administração do orçamento municipal.” Eduardo Viola defende que os ambientalistas revejam suas posições sobre tabus como energia nuclear, hidrelétricas e transgênicos, dado que é urgente “descarbonizar” a economia, e afirma que o desconhecimento sobre os riscos da biotecnologia é cada vez menor.
Quanto às incertezas que perduram, ele responde: “A história da vida na Terra é cataclísmica e a civilização está baseada no risco. O que é preciso é administrá-lo e moderá-lo, mas nunca extingui-lo. O ambientalista precisa saber que não pode ter tudo”. Para ele, embora muitas dessas revisões já aconteçam em países desenvolvidos, no Brasil estão atrasadas em razão do baixo nível educacional e científico do País.
Fabio Feldmann, secretário-executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, diz que é contrário à energia nuclear e tem dúvidas sobre a biotecnologia.
“Mesmo assim, a gente precisa estar preparado para rever opiniões e não mais enfrentar a discussão com a sociedade de maneira simplista”.
Resta saber o quanto essa carga de inovação no pensar, agir e comunicar-se é possível sob o business as usual das organizações.
QUE MOVIMENTO?
Maristela Bernardo, jornalista, socióloga e consultora independente, tem um primo que é padre, em São Miguel Paulista, periferia leste da cidade de São Paulo, e engajado com a temática ambiental. Nas novenas rezadas com a comunidade, já levou Fabio Feldmann, o jornalista André Trigueiro e ela mesma para falar de meio ambiente. As palestras atraem pessoas que chegam em casa do trabalho às 8, 9 horas da noite, após enfrentar horas de trânsito em precários sistemas de transporte coletivo.
“Quando a gente vê 400, 500 pessoas na igreja, atentas ao tema ambiental, dá pra sentir a orfandade delas”, diz Maristela. Estão procurando alguém que lhes dê uma senha para agirem diante de temas como o aquecimento global. “E as ONGs não têm feito isso, porque não é mais da sua natureza. Elas se institucionalizaram tanto, que atuam apenas em uma negociação entre as elites”, afirma.
Maristela acredita que não há crise no movimento socioambiental simplesmente porque ele não existe mais. Para ela, formou-se uma nova elite de poder, a das ONGs, descolada das bases e acomodada em seu status quo. “Não há disposição nem estrutura para as organizações se capilarizarem na sociedade”, afirma.
“É preocupante, porque a questão socioambiental não terá solução sem intervenção e participação das massas.” Frank Guggenheim, que há três meses deixou a diretoria executiva do Greenpeace e hoje medica nas comunidades ribeirinhas da Amazônia, alerta: “É muito importante que os líderes de ONGs que estão sentados às mesas mantenham ligação com suas bases”.
Mas essa não é a sua única observação. Baseado em exemplo próprio, Guggenheim defende a renovação do poder nas organizações. “Quando assumi, queria ficar por seis anos. Um ano antes de completar o período, anunciei minha saída para iniciar o processo de procura do sucessor”. O escolhido foi Marcelo Furtado, já pertencente ao Greenpeace.
Assim como melhor governança, acrescenta Guggenheim, a busca deve se dar também por mais transparência e prestação de contas, de forma a obter legitimidade e credibilidade. Com isso, diz Feldmann, é mais fácil obter recursos para campanhas, renovação de quadros, melhorias de gestão e retenção de talentos com melhores salários, gerando um círculo virtuoso, inclusive com produção de conteúdo e de informação qualificada para a sociedade. “Uma agenda para o Brasil são ONGs com constituency, com 400 mil, 500 mil pessoas físicas filiadas em torno do mesmo objetivo.” Mas, além do fato de que aqui não há o hábito de se destinar todo mês uma contribuição às organizações – excetuando-se as de caridade –, Maristela lembra que as organizações foram criadas em época de farto recurso da cooperação internacional, o que gerou acomodação, em vez de se investir em uma cultura de sustentação pulverizada.
Com 38 mil colaboradores no Brasil (no mundo são 3 milhões) que fazem sua doação porque, teoricamente, acreditam na causa, o Greenpeace é, na opinião de Pedro Roberto Jacobi, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP, uma entidade que faz diferença, pois consegue um mínimo de capilaridade e diálogo horizontal.
Hoje, com menor fluxo de recursos externos, as entidades de forma geral estão dependentes de dinheiro público e da iniciativa privada – e descapitalizadas. Ana Cristina Barros, representante da The Nature Conservancy no Brasil, listou apenas 23 ONGs com orçamento superior a R$ 500 mil anuais, ao mesmo tempo que o cenário mais complexo e que demanda inovação de toda ordem exige profissionais mais capacitados.
Na relação com o setor privado, Guggenheim afirma que sempre há risco de cooptação. “Um acordo nunca vai sair como os ambientalistas gostariam, então é preciso saber ceder as coisas certas, não se render a compromissos podres e denunciar as falsas promessas.” Monica Borba, coordenadora de projetos da ONG 5 Elementos e especializada em educação ambiental, pondera que hoje as empresas têm uma postura muito diferente. “Desenvolvo projetos há 15 anos, e, sempre que começava alguma mudança de consciência, a empresa encerrava o contrato. Agora não é mais assim.”
Mas, antes de encarar o relacionamento com o setor privado ou o público, cabe aos socioambientalistas pensar no quanto estão articulados entre si, diz Jacobi. Sem uma união interna em torno de objetivos comuns, superiores à necessidade de buscar a própria sobrevivência, a bandeira por eles levantada não voltará sozinha às suas mãos.
A busca pela sustentabilidade teve uma origem. Não perder esse foco original é cuidar para manter firme o mastro, ainda que a bandeira possa – e deva – ser empunhada por todos.