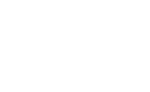Na grande floresta que não reconhece divisas, a região limítrofe do País sofre com fragilidades estruturais, que permitem o avanço do crime organizado e a sua conexão a outras redes de ilegalidades presentes no território. Estão em debate alternativas para desenvolver a bioeconomia, com liderança de indígenas e ribeirinhos, junto à cooperação internacional na Pan-Amazônia e ao fortalecimento das instituições públicas de segurança e proteção socioambiental
Por Sérgio Adeodato
A palavra “fronteira” é rica em significados. Vai muito além da visão geopolítica como uma linha divisória entre países. Não está restrita a uma questão meramente de soberania. Tampouco se resume a um ponto longínquo, remoto, isolado no mapa. A expressão diz respeito ao que está à frente, em construção – a tendência do que há de mais novo na ciência, na tecnologia, no conhecimento. Envolve modernidade, mas também representa a força – ou a vulnerabilidade – daquilo que está no limite extremo. É um lugar de trocas e conexões entre os dois lados, de interculturalidades.
Na Amazônia, o conceito de fronteira abrange tudo isso em um quadro socioambiental complexo, que incorpora um aspecto fronteiriço chamado por pesquisadores de “porosidade”. É a característica de apresentar vazios que permitem livre fluidez na grande floresta que não reconhece divisas. Junto a isso, em cenário de riscos e oportunidades, a “fronteira” assume o significado também de trincheira, ou laboratório de soluções para proteção socioambiental.
Nesse contexto, quais são os caminhos para maior presença do Estado na região amazônica de fronteira? Como dinamizar a bioeconomia em alternativa à ilegalidade? Qual a estratégia para conciliar conservação da floresta em pé, renda e direitos de povos indígenas e populações ribeirinhas, sem o assédio de atividades predatórias?
“Não vemos a fronteira só como uma linha que separa países, mas como local de coordenação de esforços para melhorar a vida das pessoas”, afirma o general Costa Neves, comandante do Comando Militar da Amazônia (CMA), um dos convidados da rede Uma Concertação pela Amazônia para debater essas e outras questões em plenária, no dia 28 de abril.
Com o tema “Porosidades Amazônicas”, o debate também tem a participação de Taciana de Carvalho Coutinho, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e do Instituto Natureza e Cultura, em Benjamin Constant (AM); de Beto Marubo, membro União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Unijava); de Aiala Couto, presidente do Instituto Mãe Crioula; e de Beatriz de Almeida Matos, diretora do Departamento de Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato do Ministério dos Povos Indígenas (MPI).
Realidades desafiadoras
Inspirado por painéis da artista indígena Rita Huni Kui, com pinturas de figuras femininas que representam forças ancestrais da sua etnia, no Acre, o encontro descortina realidades amazônicas desafiadoras. Dos 9,9 mil quilômetros de fronteira do País, 59% estão na Amazônia Legal, com sinais de alerta sobre o futuro de toda a região.
“Garimpo ilegal, tráfico de armas e drogas, biopirataria, pesca predatória, contrabando, tráfico humano, imigração ilegal, desmatamento e grilagem de terras são ameaças crescentes”, enumera o general Costa Neves. “Fronteiras porosas e extensas servem como base de uma espécie de ‘ecossistema do crime’ que perpetua devastação, miséria e violência.”
O quadro convive com a riqueza da alta diversidade biológica e cultural. Na região da tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia, por exemplo, há alta concentração de povos indígenas e ribeirinhos, com diferentes culturas e saberes tradicionais que nutrem o potencial de uma economia baseada no uso sustentável da biodiversidade.
No coração da Pan-Amazônia, formada por nove países que abrangem o bioma no continente, as problemáticas da região fronteiriça brasileira envolvem a demanda das forças de segurança, das instâncias de cooperação internacional, academia e movimentos sociais, no contexto da importância das florestas – e dos povos que nela vivem – no enfrentamento da mudança climática.
“Nossas linhas de fronteira caracterizam um déficit de soberania, com gargalos que retratam uma baixa presença de atores do Estado e um entorno estratégico como um dos maiores centros produtores de droga do mundo. São linhas de fratura que comprometem a segurança e a defesa do País”, reconhece o general.
O Comando Militar da Amazônia possui uma estrutura de quase 20 mil homens e mulheres, como 8,8 mil soldados em 23 pelotões especiais de fronteira. Em 2024, foram realizadas 587 ações de reconhecimento nas faixas de fronteira, com 50 operações de grande vulto, a exemplo da ocorrida na Terra Indígena (TI) Yanomami, a maior do País, em Roraima, em conjunto com vários órgãos federais. Na TI Vale do Javari, a segunda maior, com 92 mil km², a incursão militar estendeu-se por 246 dias, no total de 10 mil quilômetros de navegação e inspeção nos rios.
“É essencial fortalecer instituições do Estado brasileiro na segurança pública e na proteção ambiental e indígena, para chegarmos à altura do desafio”, afirma Costa Neves. Ele reforça que somente pelo diálogo e pela conjunção de esforços haverá resultados positivos para uma maior percepção de pertencimento na região de fronteira, inclusive com vistas à bioeconomia. “Falamos muito do valor da floresta em pé [US$ 210 bilhões por ano, segundo a FGV Eaesp), e devemos fazer esse potencial retornar [em benefícios] para a Amazônia”, afirma.
Inovação, criatividade e ancestralidade
Mas Taciana Coutinho, da Ufam, enfatiza que “não adianta chegar com projetos mirabolantes de cima para baixo que acabam abandonados, frustrando as esperanças de quem busca alternativas de renda”. Em região de alta diversidade, a estratégia é, segundo ela, desenvolver uma nova economia baseada na inovação e criatividade, unindo tecnologia e saberes tradicionais.
“Vivo a angústia profissional de ver alunos recém-formados (65% indígenas) na difícil busca de oportunidades”, lamenta Coutinho, há 16 anos estudando as dinâmicas sociais e ambientais na tríplice-fronteira. “Trata-se de um lugar único de circulação livre, onde a fluidez marca identidades culturais e práticas sociais que se entrelaçam em uma convivência muito complexa.”
Na análise da pesquisadora, essas porosidades revelam fragilidades estruturais que caracterizam “3 is” presentes no cotidiano da região: ilegalidade, irregularidade e informalidade que atinge mais de 70% da população economicamente ativa e se reflete em impactos sociais, com ingresso de jovens em atividades ilegais, apesar da infraestrutura acadêmica lá existente.
Nesta região fronteiriça há mais de 100 pesquisadores (mestres e doutores) na Ufam, Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Instituto Federal do Amazonas (Ifam) e instituições privadas. “Queremos conectar ciência e tecnologia e comunidades e seus saberes tradicionais como dinamizadores da fronteira, mantendo a floresta em pé, com menor dependência das ilegalidades”, pondera Coutinho, à frente do projeto do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para implantação do Parque Tecnológico e Científico do Alto Solimões.
Do uso de drones para mapeamento da floresta ao estudo de cadeias da bioeconomia mais produtivas, o objetivo é identificar oportunidades e benefícios a partir do que as comunidades têm em seus territórios, sem querer reinventar a roda. Em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), os pesquisadores mapearam prioridades: agricultura sustentável baseada em frutos nativos, pesca e turismo de base comunitária.
Segundo Coutinho, embora exista uma rede acadêmica na região, é preciso vencer precariedades de infraestrutura, como melhor conexão à internet, que só chegou à região nos últimos três anos. “Até então vivíamos no apagão digital, um atraso de quatro a cinco décadas em relação ao resto do mundo”, lamenta a pesquisadora.
Território emergente
Florestas não reconhecem fronteiras e, nesta região, a vida cotidiana retrata a integração de culturas: “No lado brasileiro, é comum ter na mesa o café colombiano e a batata peruana”, ilustra a pesquisadora. Ela observa que há uma intensa dinâmica de trocas, porém falta “trabalhar o processo de governança entre os países da Pan-Amazônia com abordagem no desenvolvimento territorial”.
Existem 125 cidades na faixa de fronteira internacional da Amazônia Legal, conforme publicação da Concertação. Dez delas são fruto da junção de cidades de países diferentes que cresceram uma em direção à outra. Esse fenômeno de conurbação é indicativo da importância do papel que essas cidades gêmeas desempenham. Suas áreas urbanas possuem um caráter geopolítico estratégico como núcleos articuladores em diferentes escalas.
Na análise de Beto Marubo, da Unijava, “o dilema é como somar forças para proteger a fronteira e garantir direitos e condições dignas de vida, frente ao crescimento do crime organizado”. Ele relata número cada vez maior de assaltos por ações piratas nos rios e brigas entre facções já presentes nas aldeias, em região que esteve sob os holofotes globais como local do assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, em 2022.
“Com a criminalidade em alta, e as comunidades acuadas, não há como pensar a bioeconomia. São cerca de 7 mil indígenas crescendo e constituindo família e o êxodo para as cidades é uma realidade”, aponta Marubo.
Ele lembra que são muito diferentes as formas de combater o crime organizado no Rio de Janeiro e na fronteira amazônica, e que esta região está no caminho da Colômbia, onde não é possível acessar áreas dominadas pelo tráfico. “Esse será nosso inferno futuro se providências não forem tomadas. Podemos perder o País para a criminalidade, cada vez mais organizada, enquanto o Estado brasileiro mostra grande letargia e lentidão”, adverte a liderança indígena.
O Núcleo de Estudos Socioambientais do Amazonas (Nesam), localizado em Tabatinga (AM), mapeou as formas de criminalidade na fronteira, e a participação de interlocutores locais indígenas permitiu configurar a violência resultante da exploração ilegal de recursos naturais em áreas protegidas, conforme detalhes publicados em estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea).
Conhecimento indígena
Uma estratégia para o Brasil nesta guerra, concorda Marubo, é usar como arma o próprio conhecimento indígena sobre os territórios. A Unijava criou equipe de vigilância indígena na perspectiva de qualificar as informações – cartográficas, logísticas etc.– fornecidas para as autoridades agirem. “Foi uma atitude que tivemos no desespero, porque isso não é uma responsabilidade nossa, mas do Estado brasileiro”, explica.
“Se o País continuar vendo Terra Indígena como atraso e ameaça à segurança nacional, não chegaremos a lugar algum, enquanto o crime organizado já está lá nas aldeias oferecendo barco, arroz, sal e farinha para os nossos parentes, o que é muito preocupante”, afirma Marubo.
No Vale do Javari localiza-se a maior concentração de índios isolados do mundo. Entre as medidas para virar o jogo em favor das populações tradicionais, segundo ele, está o fortalecimento da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), com recuperação de bases operacionais hoje em ruínas. É necessário, também, ressaltar a importância do Exército como “única instituição na Amazônia, com expertise, estrutura e logística para enfrentar o desafio à altura”. No entanto, há carência de dotações orçamentárias e melhores condições de trabalho para atuar na vigilância permanente na região, não só em operações temporárias, diz Marubo.
Necessidade de integrar forças
Para Beatriz Matos, do (MPI), não falta vontade política do atual governo, mas sim recursos financeiros e uma maior integração entre as diferentes forças de segurança e a Funai, que conhece os territórios de forma mais profunda e dialoga com comunidades indígenas. O Plano de Proteção Territorial do Vale do Javari, a ser divulgado em breve pelo MPI, prevê prioridades para a área e caminhos na reconstrução do que foi desmantelado nos últimos dez anos.
“O discurso da Amazônia aberta à exploração como garantia de soberania só fragilizou a segurança nacional frente ao crime organizado”, afirma Beatriz Matos.
No Pará, há 64 comunidades quilombolas com presença de facções criminosas, segundo Aiala Couto, do Mãe Crioula, que mapeia os direitos territoriais nessas áreas. Ao Norte, no Amapá, a fronteira com a Guiana Francesa funciona como porta de saída de drogas, ouro e madeira contrabandeada, tendo o Pará como grande corredor para abastecer mercados externos.
“A lógica do capital representada por atividades ilegais se sobrepõe ao modo de vida das comunidades”, ressalta Aiala Couto. De acordo com ele, “o maior problema para a segurança regional é a interpretação do que é de fato uma fronteira e seu papel nas conexões que marcam as realidades da Amazônia”.
O pesquisador adverte que, diante da atual política americana de repressão, a tendência é o deslocamento do tráfico de drogas para o mercado europeu e africano, tendo o Brasil – e a Amazônia – como rota estratégica. Em região de grande complexidade, diz Couto, a solução não partirá do Estado como uma varinha mágica, mas dos povos ancestrais, com suporte à bioeconomia aliada à proteção territorial. “Dificilmente quilombolas e ribeirinhos seriam cooptados pelo crime organizado se tivessem condições satisfatórias de bem-viver”.