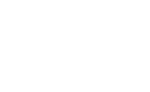Por Amália Safatle e Jorge Novais
Levou 35 anos para que o Japão entendesse o nexo entre o despejo de metilmercúrio nos rios de Minamata, pela indústria química Chisso Corporation, e a deformidade de crianças e adultos que consumiam a água da região. Somente em 1956 foi reconhecido o Mal de Minamata, doença incurável cujos sintomas são falta de coordenação motora, perda de sensibilidade nas mãos e pés, fraqueza muscular, perda de visão periférica e danos à audição e à fala. Em casos extremos, leva em semanas à insanidade, paralisia, coma e morte. Os resíduos industriais foram despejados entre 1932 e 1968.
No Brasil, a contaminação por mercúrio pelo garimpo é mais abrangente: as águas de rios como o Tapajós, contaminados pelo metal pesado, estendem-se por um imenso território amazônico, com efeitos difusos, o que aumenta a dificuldade em mostrar para a opinião pública a relação de causa e efeito entre o garimpo ilegal e doenças neurológicas já sentidas pela população.
Por isso, foi fundamental a pesquisa do médico neurologista Erik Jennings que coletou dados de indígenas e populações ribeirinhas altamente impactadas pelo mercúrio despejado no ambiente – uma vez que dependem da alimentação de peixes para sobreviver. “Há 30 anos, com a atividade garimpeira, que estudos têm mostrado um nível muito alto no sangue dessas pessoas”, afirma Jennings.
O médico foi central no elo entre a história de Minamata no Japão e o que vem ocorrendo no Brasil, como nos contam o diretor Jorge Bodansky e o produtor e roteirista Nuno Godolphim, do documentário Amazônia, A Nova Minamata?
O filme chega aos cinemas amanhã, 4 de setembro, com distribuição da O2 Play. O documentário acompanha a saga do povo Munduruku para conter o impacto destrutivo do garimpo de ouro em seu território, e ao mesmo tempo revela como a Mal de Minamata ameaça os habitantes de toda a Amazônia hoje – inclusive a população urbana. Com coprodução da Globo Filmes e Globonews, e realização da Ocean Films, o longa teve tendo Walter Salles e a VideoFilmes como produtores associados. Confira os principais trechos da entrevista concedida por Bodansky e Godolphim à Página22:
Embora tenha sido produzido em 2019, o filme é muito atual, primeiro porque hoje há uma maior discussão sobre mineração e toda a tecnologia que demanda minerais críticos e terras raras, o que vai além da questão do ouro. E outra questão muito atual é a da COP 30 em Belém, pois em uma parte do filme vocês mostram que os Munduruku viviam originalmente um território que engloba a atual Belém. E a gente desconhece que essa cidade que vai sediar a COP era território indígena dos Munduruku.
Jorge Bodansky: É interessante essa observação, não tínhamos pensado nisso em relação à COP. Boa dica, vamos usar na divulgação do filme (risos). O filme tem uma exibição já programada em outubro, uma espécie de pré-COP, pela Fiocruz. A gente não vai à COP, porque está complicado o negócio, mas as lideranças indígenas vão exibir o filme durante a Conferência. Acho até melhor que eles façam isso. São várias lideranças de diferentes organizações indígenas em diferentes lugares na COP, em dois ou três momentos programados por eles lá. Teremos uma exibição sala no Sesc, uma sala ótima, de fácil acesso, bem em frente ao [mercado] Ver-o-Peso.
Muita coisa na agenda ambiental já avançou desde 2019, considerando que o filme foi feito no período do governo Bolsonaro?
JB: O que você chama de muita coisa?
Antes havia tinha uma política deliberada do governo federal de incentivo ao garimpo ilegal e a ideia de que os indígenas deveriam entrar na economia dos brancos para se “civilizarem”. Eu entendo que nesta gestão não existe esse pensamento, principalmente tendo a Marina Silva como ministra, além da criação do Ministério dos Povos Indígenas. Hoje existe também uma tentativa de controlar a cadeia do ouro junto às DTVMs [Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários], para rastrear a origem do ouro. Mas qual é sua opinião?
JB: Claro que teve avanços, mas também teve retrocessos. Os dois lados caminham paralelamente, infelizmente. A questão da legislação ambiental que vivemos agora no Congresso é um retrocesso enorme. O poder do tráfico na região como um todo aumentou muito. O crime organizado que hoje detém o controle do mercúrio, está tudo na mão do crime. Em parte, o ouro também, porque eles usam isso para lavar dinheiro. São situações que estão muito piores do que eram antes. E também a cooptação dos indígenas e ribeirinhos pelos garimpeiros. Isso tem aumentado bastante, é uma coisa muito difícil de controlar, de reverter.
Mas eu acho que o filme tem uma função importante nessa história, porque mostra o que acontece, as consequências do garimpo no sangue, do mercúrio no sangue das pessoas. A ideia original foi essa: através de Minamata, mostrar quais são consequências disso, porque o mercúrio não aparece, ele é invisível e incolor. Os danos neurológicos levam 10, 20, 30 anos para aparecer. As pessoas não dão valor a isso, não se preocupam, acham que isso não é um problema para agora. Então, a ideia é justamente mostrar: “Olha, o que aconteceu em Minamata está começando a acontecer aqui”. São os mesmos sintomas. É um alerta importante para que as pessoas entendam o mal que faz o mercúrio, e principalmente para as lideranças indígenas mostrarem isso nas aldeias.


Antes mesmo de ser lançado, vocês perceberam alguma repercussão, considerando que o filme já passou em festivais como o Ecofalante?
JB: O filme repercute muito, mas o problema é muito grande. E o filme é uma peça só. A gente vê esse filme como um instrumento para os ativistas. Tanto os ativistas indígenas como os não indígenas. E ele está sendo usado bastante.
Nuno Godolphim: Este é um filme de impacto desde que nasceu. Porque uma das coisas que percebemos foi exatamente isso: as populações indígenas precisavam entender o que estava acontecendo e se mobilizar para fazer com que os parentes deles parassem de serem assediados pelos garimpeiros. Então, todo o processo do filme vai por aí. Toda a experiência com o Japão e tudo mais. Mas só pra você saber, durante o processo – e logo depois também, ainda com o filme em edição –, cedemos o filme para a Corte Latino-Americana de Direitos Humanos como uma prova do que estava acontecendo, e o Brasil foi condenado a prestar atenção aos Munduruku e aos Yanomami. Em seguida, mandamos o filme para a Convenção de Minamata sobre Mercúrio, e eles exibiram internamente. Foi aí que entenderam o que estava acontecendo aqui e, pela primeira vez, passaram a ouvir as populações indígenas.
Nós liberamos o filme para várias ações de impacto, literalmente. O pessoal do Instituto Escolhas, que fez todo esse trabalho para fazer a legislação sobre a cadeia do ouro, tem o filme à disposição para mostrar para deputado, para mostrar para quem for.
JB: Quem pede, a gente cede o filme.
Como se deu a passagem da Fiocruz no filme?
JB: Foi o que nos permitiu fazer o filme. Foi através da Fiocruz. Porque na época em que fizemos o filme, não havia condições de entrarmos nas áreas indígenas por conta própria. O governo jamais ia permitir isso. Então, entramos acompanhando a atividade da Fiocruz. E também nos interessava o trabalho que ele estava fazendo.
E quando vocês descobriram o doutor Erik Jennings?
JB: Quando estávamos fazendo uma série, em 2016 [para a HBO, chamada Transamazônica, uma estrada para o passado], conhecemos o doutor Erik. Foi ele quem fez essa comparação com Minamata, e achamos que isso dava um filme. E também Minamata apareceu em função de um fotógrafo muito importante. Nuno, você pode contar a história? O Nuno, sendo fotógrafo, estudou esse fotógrafo, que foi quem detonou a questão de Minamata.
NG: Eu dava aula de fotografia de fotodocumentário e uma das minhas aulas era sobre W. Eugene Smith [fotojornalista americano]. A foto mais famosa dele é exatamente de uma menina deficiente de Minamata tomando um banho, chamada Tomoko Uemura in her Bath [de 1972].
JB: Foi feito um filme, com Johnny Depp, sobre a história desse fotógrafo, que levou a imagem de Minamata para o mundo. Tanto é que essa doença se chama Mal de Minamata, em função do acidente de Minamata. [O filme narra a história de Smith em sua viagem ao Japão nos anos 1970 para documentar o envenenamento por mercúrio que afetava a comunidade de Minamata, causado pela Chisso Corporation. De 1932 a 1968, a fábrica da Chisso liberou resíduos tóxicos contendo metilmercúrio no meio ambiente. O contaminante bioacumulou-se na vida marinha e foi consumido pela população.]
NG: O doutor Erik é da saúde indígena, a Sesai [Secretaria Especial de Saúde Indígena], que o chamou para ver por que tinham 178 pedidos de cadeira de roda, por que tinham 178 crianças Munduruku em 2015 com problemas neurológicos. O doutor Erik, que é um neurologista, vai até lá e começa a fazer as pesquisas. Nesse mesmo momento, a Fiocruz estava fazendo pesquisa com os Yanomami.
E aí a Alessandra Munduruku, sabendo disso tudo, fez uma carta para a Fiocruz e a convidou a para fazer a mesma pesquisa lá também. Achamos no início que íamos fazer um braço do filme com o doutor Erik e os Munduruku, e um outro braço com a Fiocruz, com os Yanomami. Mas a Fiocruz veio com os Munduruku. E a Fiocruz, desde o início se prontificou a ser a nossa consultora científica, tanto que assina como consultora científica do filme. Tudo que fazemos, e falamos sobre mercúrio, aprendemos com eles e aprovamos com eles, antes de falar para fora.
Foi difícil obter o material de arquivo sobre Minamata?
JB: Foi complicado, por várias razões. Primeiro, porque foi durante a pandemia e não se podia ir ao Japão. Então a tivemos de filmar com uma equipe meio brasileira, meio japonesa, de Tóquio, que fez essa filmagem para a gente. E eles se comoveram muito. Não sabiam que a Amazônia sofria também o Mal de Minamata. Então os japoneses se comoveram e ajudaram. E ajudaram muito.
As imagens mais atuais das pessoas doentes foram vocês que fizeram?
JB:A nossa equipe que fez. Não pudemos ir pessoalmente para o Japão. Então eu dirigia a câmera, e tinha um operador inglês. E a gente tinha um tradutor do japonês.
NG: O Jorge dirigiu do Brasil, de madrugada, à distância.
Foi mais desafiador fazer esse filme do que o Iracema – Uma Transa Amazônica [de 1975]?
JB: São desafios diferentes. Mas o Iracema tinha o desafio da ditadura militar, rondando ali a gente. E aqui você tem o desafio também de uma outra forma. Nós filmamos durante o governo Bolsonaro e tínhamos a patrulha dos cooptados, que você viu no filme, que nos ameaçaram fisicamente mesmo.
NB: O próprio médico só vai conseguir fazer a devolução dos resultados já quando estava acabando o governo Bolsonaro. Foi aí que ele conseguiu fazer a devolução, porque não tinha sido autorizado a ir pra lá.
Quer dizer, foram desafios diferentes, mas com uma mesma pegada, de um certo autoritarismo em cima.
JB: E de um perigo físico mesmo.
NB: Tem uma coisa de direção muito delicada também. Quando vimos pela primeira vez as imagens de Minamata, achamos que iríamos fazer um filme de terror. Porque as imagens são apavorantes, são muito chocantes. E aí a coisa toda foi achar uma linguagem, um caminho, de como a apresentar isso de uma forma palatável para que as pessoas pudessem ver e não ficar uma coisa…
JB: …repelente.
Também chamam atenção os garimpeiros ilegais, dando depoimento com a cara limpa e a maior naturalidade, ao mesmo tempo em que praticam uma atividade criminosa.
JB: Eles não se veem como criminosos. Eles se veem como empresários, empreendedores. São os mesmos empreendedores que nos anos 70 vieram para a Amazônia para tornar a Amazônia um pedaço do Brasil “civilizado”. Essa é a mentalidade que eles têm. Por isso que você tem gente lá no Congresso que está tentando legalizar garimpo em Terra Indígena e garimpo em Unidade de Conservação. E achando que eles estão fazendo um grande bem para o Brasil.
Esses dois filmes, Minamata e Iracema, mostram que você tem uma sensibilidade para as questões ambientais. O que te chama para essa temática?
JB: Eu trabalhava como câmera para a TV alemã e a questão política – não se chamava ambiental na época –, mas a questão política e social era o tema que interessava. Então, desde o início, já comecei com essa temática.
E o Brasil é um prato cheio, não?
JB: Infelizmente.