No mundo ainda dominado pelo machismo, as mulheres têm poucas chances de se manifestar e serem ouvidas. Mas calar os homens será a solução?
Por Daniela Gomes Pinto*
“Parar de falar.” O post-it grudado no meu computador tenta me lembrar, diariamente, dessa missão quase impossível. Dizem que falar muito é característica inerente às mulheres. Os homens são mais quietos, sóbrios. Na infância, minha mãe era a falante da casa, e, por conta disso, muitas vezes a falastrona. Meu pai, não. Discreto, quando abria a boca, lá íamos nós, os filhos, ouvir Sua Santidade, o Papai. Chuto que falar pouco é quase uma estratégia de marketing masculina, uma forma de dar peso maior ao que será dito.
Mas nem sempre as mulheres têm a chance de exercer seu direito de falar demais. Há alguns anos participei de um curso pela Fundação Heinrich Böll, em Berlim, sobre “Gênero, Agricultura e Desenvolvimento”. Durante dez dias, 60 mulheres de variadas nacionalidades discutiram a relação da mulher com a produção agrícola, seu papel no desenvolvimento familiar e comunitário, e as questões intrínsecas ao tema: preconceito, desigualdade e redução de oportunidades para as mulheres em grande parte do mundo – especialmente o rural.
Conheci angolanas que não tinham direito à terra herdada dos pais, por serem mulheres. Três representantes da Indonésia tinham vivido ou presenciado tantos abusos, que não se relacionavam nem se dirigiam mais aos homens. Era um desprezo construído menos pelos seus desejos e opções sexuais, e mais por décadas de opressão e violência.
Mas, no meio daquela legião de mulheres fortes e indignadas, saltava aos olhos a presença de três homens. Um indiano radicado em Londres, um israelense e um nigeriano faziam parte da turma. Tive imediatamente simpatia por aqueles três exemplares do sexo oposto, demonstrando interesse para com a “nossa” causa. Estava curiosa para ouvi-los, saber suas histórias, conhecer a trajetória de sua militância.
Mas o mundo é muito mais complicado. No primeiro dia, depois de uma intervenção do rapaz da Índia – um homossexual assumido, se é que isso vem ao caso -, uma mulher pediu a palavra e sugeriu que, durante o evento, os homens participantes não tivessem o direito de falar. Nem de fazer perguntas, nem de participar das discussões.
Deveriam ser meros espectadores. Comecei a rir, achando a ideia absurda. Mas o que se deu em seguida foi inesperado para mim. Cerca de metade das participantes concordou com a proposta. O argumento essencial era este: a desigualdade faz com que homens sejam mais preparados, articulados, e tenham maior facilidade para exprimir suas opiniões. Tanto sua eloquência como a ideia da sociedade machista de que “eles sabem mais” acabaria por intimidar muitas das mulheres dali, reproduzindo a opressão “da vida real”.
O clima esquentou. Algumas mulheres gritavam: “Não tem lugar para vocês aqui!” Uma delas sugeriu uma votação: quem era a favor de que os três homens não falassem durante todo o curso que levantasse a mão. No final, os ânimos foram acalmados e as organizadoras convenceram a todas de que aqueles homens tinham sido selecionados para estarem ali e tinham direito de participar.
O que se seguiu nos outros nove dias não foi surpresa. Nem sequer ouvi a voz do agricultor israelense. Conheci o nigeriano fora da sala de aula, uma pessoa doce, simpática e extremamente engajada na causa das mulheres. Mas ele não se pronunciava durante as aulas. O indiano, mais indignado, fez discursos inflamados nos dias seguintes, interrompia intervenções de outras participantes e perdeu a simpatia de todos.
Conviver com aquelas mulheres foi um aprendizado, acostumada que estava a preconceitos mais velados, como ganharmos salários menores que homens, ou até anedóticos, como meu pai nunca ter trocado uma fralda dos filhos, mesmo minha mãe trabalhando fora tanto quanto ele. Em muitas partes do mundo, as mulheres ainda sofrem preconceitos muito mais dramáticos, vinculados a violações diárias de direitos universais. Fácil entender atitudes tão radicais contra o sexo masculino.
Foi Rui Barbosa quem disse: “Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real”. Ele falava da tal equidade. Sempre tão oprimidas, talvez naquela situação as mulheres precisassem oprimir seu opressor para garantir voz. Mas o desconforto de como tratamos aqueles três homens bateu forte em mim.
Um desfecho cômico para um assunto difícil. No meio do evento, tivemos um problema com o data show que projetava as palestras. Primeiro, a palestrante tentou resolver o problema. Depois a organizadora foi lá, e nada. Aos poucos, as participantes mais “tecnológicas” desciam da plenária, cada uma tentando fazer a máquina funcionar. Após meia hora de tentativas, a organizadora chamou por telefone alguém para ajudar.
Entra no auditório um rapaz, óculos fundo de garrafa, mirradinho. Olha em volta, um pouco acuado. Sobe ao palco, aperta um único botão do data show e voilà, como mágica o troço volta a projetar. Eu, que perco o amigo, mas não perco a piada, soltei: “E não é que eles, os homens, servem pra alguma coisa?!” Só metade da plateia riu.
*Pesquisadora do Gvces e Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela London Schoolof Economics and Political Science
No mundo ainda dominado pelo machismo, as mulheres têm poucas chances de se manifestar e serem ouvidas. Mas calar os homens será a solução?
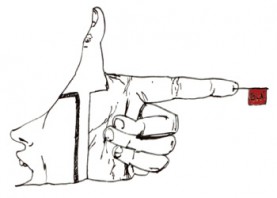 “Parar de falar.” O post-it grudado no meu computador tenta me lembrar, diariamente, dessa missão quase impossível. Dizem que falar muito é característica inerente às mulheres. Os homens são mais quietos, sóbrios. Na infância, minha mãe era a falante da casa, e, por conta disso, muitas vezes a falastrona. Meu pai, não. Discreto, quando abria a boca, lá íamos nós, os filhos, ouvir Sua Santidade, o Papai. Chuto que falar pouco é quase uma estratégia de marketing masculina, uma forma de dar peso maior ao que será dito.
“Parar de falar.” O post-it grudado no meu computador tenta me lembrar, diariamente, dessa missão quase impossível. Dizem que falar muito é característica inerente às mulheres. Os homens são mais quietos, sóbrios. Na infância, minha mãe era a falante da casa, e, por conta disso, muitas vezes a falastrona. Meu pai, não. Discreto, quando abria a boca, lá íamos nós, os filhos, ouvir Sua Santidade, o Papai. Chuto que falar pouco é quase uma estratégia de marketing masculina, uma forma de dar peso maior ao que será dito.
Mas nem sempre as mulheres têm a chance de exercer seu direito de falar demais. Há alguns anos participei de um curso pela Fundação Heinrich Böll, em Berlim, sobre “Gênero, Agricultura e Desenvolvimento”. Durante dez dias, 60 mulheres de variadas nacionalidades discutiram a relação da mulher com a produção agrícola, seu papel no desenvolvimento familiar e comunitário, e as questões intrínsecas ao tema: preconceito, desigualdade e redução de oportunidades para as mulheres em grande parte do mundo – especialmente o rural.
Conheci angolanas que não tinham direito à terra herdada dos pais, por serem mulheres. Três representantes da Indonésia tinham vivido ou presenciado tantos abusos, que não se relacionavam nem se dirigiam mais aos homens. Era um desprezo construído menos pelos seus desejos e opções sexuais, e mais por décadas de opressão e violência.
Mas, no meio daquela legião de mulheres fortes e indignadas, saltava aos olhos a presença de três homens. Um indiano radicado em Londres, um israelense e um nigeriano faziam parte da turma. Tive imediatamente simpatia por aqueles três exemplares do sexo oposto, demonstrando interesse para com a “nossa” causa. Estava curiosa para ouvi-los, saber suas histórias, conhecer a trajetória de sua militância.
Mas o mundo é muito mais complicado. No primeiro dia, depois de uma intervenção do rapaz da Índia – um homossexual assumido, se é que isso vem ao caso -, uma mulher pediu a palavra e sugeriu que, durante o evento, os homens participantes não tivessem o direito de falar. Nem de fazer perguntas, nem de participar das discussões.
Deveriam ser meros espectadores. Comecei a rir, achando a ideia absurda. Mas o que se deu em seguida foi inesperado para mim. Cerca de metade das participantes concordou com a proposta. O argumento essencial era este: a desigualdade faz com que homens sejam mais preparados, articulados, e tenham maior facilidade para exprimir suas opiniões. Tanto sua eloquência como a ideia da sociedade machista de que “eles sabem mais” acabaria por intimidar muitas das mulheres dali, reproduzindo a opressão “da vida real”.
O clima esquentou. Algumas mulheres gritavam: “Não tem lugar para vocês aqui!” Uma delas sugeriu uma votação: quem era a favor de que os três homens não falassem durante todo o curso que levantasse a mão. No final, os ânimos foram acalmados e as organizadoras convenceram a todas de que aqueles homens tinham sido selecionados para estarem ali e tinham direito de participar.
O que se seguiu nos outros nove dias não foi surpresa. Nem sequer ouvi a voz do agricultor israelense. Conheci o nigeriano fora da sala de aula, uma pessoa doce, simpática e extremamente engajada na causa das mulheres. Mas ele não se pronunciava durante as aulas. O indiano, mais indignado, fez discursos inflamados nos dias seguintes, interrompia intervenções de outras participantes e perdeu a simpatia de todos.
Conviver com aquelas mulheres foi um aprendizado, acostumada que estava a preconceitos mais velados, como ganharmos salários menores que homens, ou até anedóticos, como meu pai nunca ter trocado uma fralda dos filhos, mesmo minha mãe trabalhando fora tanto quanto ele. Em muitas partes do mundo, as mulheres ainda sofrem preconceitos muito mais dramáticos, vinculados a violações diárias de direitos universais. Fácil entender atitudes tão radicais contra o sexo masculino.
Foi Rui Barbosa quem disse: “Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real”. Ele falava da tal equidade. Sempre tão oprimidas, talvez naquela situação as mulheres precisassem oprimir seu opressor para garantir voz. Mas o desconforto de como tratamos aqueles três homens bateu forte em mim.
Um desfecho cômico para um assunto difícil. No meio do evento, tivemos um problema com o data show que projetava as palestras. Primeiro, a palestrante tentou resolver o problema. Depois a organizadora foi lá, e nada. Aos poucos, as participantes mais “tecnológicas” desciam da plenária, cada uma tentando fazer a máquina funcionar. Após meia hora de tentativas, a organizadora chamou por telefone alguém para ajudar.
Entra no auditório um rapaz, óculos fundo de garrafa, mirradinho. Olha em volta, um pouco acuado. Sobe ao palco, aperta um único botão do data show e voilà, como mágica o troço volta a projetar. Eu, que perco o amigo, mas não perco a piada, soltei: “E não é que eles, os homens, servem pra alguma coisa?!” Só metade da plateia riu.
Daniela é pesquisadora do Gvces e Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela London School of Economics and Political Science
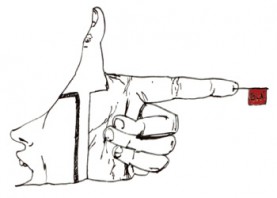 “Parar de falar.” O post-it grudado no meu computador tenta me lembrar, diariamente, dessa missão quase impossível. Dizem que falar muito é característica inerente às mulheres. Os homens são mais quietos, sóbrios. Na infância, minha mãe era a falante da casa, e, por conta disso, muitas vezes a falastrona. Meu pai, não. Discreto, quando abria a boca, lá íamos nós, os filhos, ouvir Sua Santidade, o Papai. Chuto que falar pouco é quase uma estratégia de marketing masculina, uma forma de dar peso maior ao que será dito.
“Parar de falar.” O post-it grudado no meu computador tenta me lembrar, diariamente, dessa missão quase impossível. Dizem que falar muito é característica inerente às mulheres. Os homens são mais quietos, sóbrios. Na infância, minha mãe era a falante da casa, e, por conta disso, muitas vezes a falastrona. Meu pai, não. Discreto, quando abria a boca, lá íamos nós, os filhos, ouvir Sua Santidade, o Papai. Chuto que falar pouco é quase uma estratégia de marketing masculina, uma forma de dar peso maior ao que será dito.