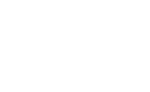A diversidade de povos e culturas no território limítrofe do Brasil, Peru e Colômbia expõe talentos em startups que saem da casinha e abrem novos caminhos na floresta
De Manaus até Tabatinga (AM), são 1h50 de voo no Embraer 195, com distância de 1,1 mil Km – ou cerca de cinco dias de barco rio acima pelas águas pardas do Solimões, antes da confluência com o rio Negro, onde recebe o nome de Amazonas até a foz, no Atlântico. O destino no extremo Oeste brasileiro reserva surpresas em meio ao dinamismo “invisível” da floresta. Longe das capitais, a tríplice fronteira amazônica do Brasil com Colômbia e Peru é cenário de uma vida pulsante, marcada pela grande diversidade de povos, línguas e culturas, com reflexos no potencial de inovações. Soluções criativas na bioeconomia em lugar de alternativas que desmatam.
A palavra “negócios” ganha novo sentido em lugar distante no mapa, mas conectado ao mundo pela internet – e pela vontade de empreender. Em Benjamin Constant (AM), cidade a 25 minutos de lancha “baleeira” desde Tabatinga, o percurso de mais 3 Km na garoupa de motocicleta leva aos prédios da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Na última sala de um dos corredores, a placa desperta curiosidade: “Inpactas – Incubadora de Negócios de Impacto Socioambiental do Alto Solimões”. Quem são e o que pensa essa turma? Quais trabalhos desenvolvem naquele cantinho do Brasil?

O ambiente que acolhe talentos para inovações está movimentado pelo burburinho do vaivém na véspera de uma celebração – a cerimônia de graduação de startups que passaram por processos de mentoria com especialistas ao longo do ano. Elas agora iniciam a próxima etapa de preparativos para enfim lançar boas ideias no mercado. Com um detalhe que faz toda a diferença: cheques de capital-semente para usar nas primeiras investidas, como formalização e início do desenvolvimento de protótipos.
No recinto lotado, a ampla presença de parceiros e lideranças políticas e empresariais sinaliza o engajamento do município na onda do empreendedorismo inovador baseado em soluções para a Amazônia – e não no assistencialismo. “São tecnologias e alternativas para problemas que não são apenas daqui”, afirma Pedro Mariosa, professor da Ufam e diretor da Inpactas. Segundo ele, o movimento em torno das startups da fronteira amazônica indica uma inversão no sentimento de subalternidade: “Estamos em região de fronteira, mas não à margem do desenvolvimento”.
Os poderes da criatividade e inovação
O potencial dos novos negócios desconstrói estereótipos da pobreza, em região de baixo Indice de Desenvolvimento Humano (IDH). Em Benjamin Constant, a cada 100 pessoas da população economicamente ativa, 94 estão na informalidade ou desempregadas. “Não podemos aceitar químicos de alto nível formados na universidade trabalhando no caixa de supermercado”, enfatiza o professor.
Ele se refere à história de Andreza Hilario, à frente da Iporan, startup que extrai óleos fixos de camu-camu e outras plantas não-convencionais para aplicações como repelente de insetos prejudicais a cultivos agrícolas. “Temos a mesma ou igual capacidade de gerar inovações como o resto o País”, completa Mariosa, ao lembrar o atual movimento da academia de sair pedestal para levar soluções à sociedade.

A Inpactas adotou como pilares o resultado de um trabalho de conclusão de curso que entrevistou 60 ambientes de inovação no País sobre o que não poderia faltar em uma incubadora da fronteira da Amazônia: time, rede de relações e planejamento. “Dinheiro não é a maior prioridade”, atesta o diretor. “Apostamos mais no talento da pessoa empreendedora do que no negócio em si; com motivação, as ideias, uma hora ou outra, avançam”.
São 15 negócios incubados, 11 deles selecionados neste ano na primeira fase do programa SinapseBio, da Fundação Certi, com chances de continuar na disputa para obter R$ 50 mil e tirar a ideia do papel. Foi um dos municípios brasileiros com maior presença de startups reconhecidas pela premiação, no patamar de regiões famosas no tema da inovação.
“É mais um propósito de vida do que um negócio para gerar muito dinheiro”, observa o empreendedor kokama Joeliton Vargas, fundador da Ikaben, startup de moda sustentável que promove a cultura indígena da Amazônia, com respeito à propriedade intelectual dos grafismos. A ideia foi selecionada pelo Idesam para aporte de investimento na tecnologia de rastreabilidade por meio do Programa Prioritário de Bioeconomia (PPBio), iniciativa da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).
As roupas funcionam como amuletos, com grafismos que na tradição indígena transmitem significados como “coragem” e “força”. “Quero ver a satisfação no rosto de nossas lideranças, com orgulho da cultura tradicional”, diz Vargas. Ele prepara a nova coleção Fino Amazônico, sob encomenda de um banco internacional para uso na COP 30 do clima, neste ano, em Belém.
Bolsas de fibras, barco modular e chocolate de ingá
Na Ufam, em Benjamin Constant, 80% dos alunos são indígenas autodeclarados. O empreendedor kambeba Joseney dos Santos Oliveira inova em bolsas e embalagens retornáveis a partir de fibras da bananeira, inspirado na técnica ancestral na confecção de cordas para amarrar lenha. “Hoje testamos insumos naturais que tornam o material mais flexível e resistente”, revela.

Ao lado de sócias indígenas kokama também formadas em Ciências Agrárias na Ufam, o objetivo do empreendedor é gerar renda em comunidades onde já trabalha como professor. A startup Kameru, liderada pelo trio, desenvolve protótipos para então avançar no negócio em parceria com populações locais que fornecerão a matéria-prima e poderão fazer o beneficiamento.
No caso do empreendedor Francisco Adriano, a novidade está no chocolate gourmet produzido a partir da semente do ingá, fruto amazônico capaz de substituir o cacau – hoje sob riscos devido à praga da monilíase. A startup Ingalate é resultado da pesquisa de graduação nos laboratórios de Química da Ufam, onde foi desenvolvido o processamento do produto, transformado em brigadeiros, sorvetes e outras iguarias de sabor marcante. Esperança de novos tempos para o filho de pai pedreiro e mãe cozinheira, hoje garçom no pequeno hotel da cidade. “Queremos contribuir para melhorar a realidade de vida no município”, diz Adriano.
Na região, a professora de artes Murana Arenillas e a arquiteta Daniela Jaenicke se uniram para criar a startup Puwakana, especializada na curadoria de arte indígena. O negócio orienta sobre materiais, técnicas e formas de agregar valor e estabelecer preços justos. O objetivo é valorizar biojoias – como colares e pulseiras de sementes de murumuru – e artefatos de caça decorativos produzidos por povos da Terra Indígena Vale do Javari como principal fonte de renda. A inovação prevê tecnologia de rastreabilidade para garantia da origem, com expectativa de aumentar em dez vezes o atual preço pago aos indígenas pelas peças.
O espectro de ideias inovadoras chega ao transporte fluvial, sob impacto das mudanças climáticas. “Busquei solução ao isolamento que dificulta acesso a água e alimentos nos períodos de seca”, conta Stephany Gonçalves, integrante de um time de cinco mulheres que constrói um barco elétrico modular com partes removíveis para se tornar mais leve e navegar em melhores condições na seca. Após estágio em projeto de embarcação solar, em Manaus, a empreendedora replica o conhecimento na fronteira, na startup FluviVerde. “Quando os rios baixam dificultando a navegação, todos sofremos com os altos preços do transporte, dependente do diesel”, enfatiza Gonçalves.
Se a startup Gametech aposta na cultura geek com inclusão digital, facilitada pela chegada de fibra ótica à região, a dupla Vinícius Garzon e Gabriel Maia, estudantes de Administração, tem as atenções no turismo. Na startup Amazônia de Boa, eles fazem o mapeamento de festas culturais e outros atrativos nas comunidades para criar roteiros mais criativos e atrativos para visitantes que hoje se concentram e geram renda no lado colombiano da fronteira.
Um novo eldorado?
“A universidade tem importante função social na região, disseminando tecnologias junto à formação acadêmica, de forma que talentos não passem despercebidos”, analisa Marinete Lourenço, diretora do Instituto Natureza e Cultura (INC/Ufam). Espera-se mudar a realidade de alunos que se formam e só encontram saída nos garimpos para o sustento das famílias.
A região fronteiriça do rio Javari, que desemboca no Solimões próximo a Benjamin Constant, reúne um amplo espectro sociocultural com 26 etnias indígenas expostas a desafios como a expansão do crime organizado e da violência. O assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, ocorrido em junho de 2022 devido a conflitos com a pesca ilegal, chocou o mundo e lançou luzes àquele ponto do mapa.
“A atual construção de um ecossistema de inovação tem o papel de dinamizar o desenvolvimento e oferecer alternativas de renda com foco na bioeconomia”, aponta Taciana Coutinho, coordenadora PaCTAS, o Parque Científico e Tecnológico do Alto Solimões. A iniciativa do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR) abrange municípios com estruturas de ensino e produção de conhecimento na fronteira.
A expectativa está na rota de comércio internacional que conecta o porto de Chancay, construído com investimento chinês no Peru, a Tabatinga – e posteriormente a Manaus, pelo rio Solimões. O trajeto é capaz de reduzir o tempo de transporte de cargas da China para a região amazônica em até 20 dias – o que pode transformar aquela fronteira em polo econômico.
Diante do potencial, é estratégico desde já construir bons exemplos de inovação e segurar cérebros para quando o possível eldorado chegar. “Ando pelo ecossistema de inovação no Brasil e não vejo nada igual a esse movimento que está ocorrendo em Benjamin Constant”, afirma Jhonata Oliveira, CEO da empresa Faça a Conta, integrante da equipe de mentores das startups graduadas na Inpactas. “É uma sensação de pertencimento, uma forma de mostrar ao mundo que você existe”, arremata Léo David, fundador e diretor-executivo do X Lab Studio, responsável pela metodologia de formação dos empreendedores, com imersão presencial e online de três meses. Ao final do ciclo, o brinde ao ritmo de toadas do boi-bumbá, a bordo de um barco regional no rio Solimões, inspira os próximos passos para as boas ideias, enfim, chegarem ao mercado.

O homem, os peixes e um assobio
Ele busca inovações para valorizar o produto amazônico e o alimento nunca faltar
Com 40 mil habitantes e forte influência multicultural indígena na fronteira com o Peru, o município de Benjamin Constant (AM) – famoso pelo festival folclórico com os bois-bumbás Corajoso e Mangagá – é ponto de encontro de idiomas e tradições, também na gastronomia. Brasileiros e muitos peruanos que lá vivem não dispensam o ceviche na mesa. O peixe da receita vem da pesca nos rios, mas poderá ter outra origem a depender dos resultados de um projeto de negócio que pretende estimular uma nova vocação econômica para o município: a piscicultura sustentável de espécies nativas, com restauração da floresta.
Na estrada de acesso à zona rural, à frente da estátua de Nossa Senhora do Bom Caminho, a porteira leva a uma chácara com lagos e tanques de criação de peixe que seriam mais alguns dos muitos existentes no País não fosse uma inovação – a ração à base de frutos da Amazônia, com possíveis atributos de produtividade e qualidade da carne. “Queremos reduzir a dependência de insumos convencionais e viabilizar custos no contexto da realidade amazônica”, revela Kléber Lima da Silva, fundador da startup Piracy, integrante da incubadora Inpactas, na Universidade Federal do Amazonas (Ufam).
Araçá, camu-camu e outras espécies proteicas, obtidas na área reflorestada com árvores frutíferas no entorno são exemplos em testes para compor inicialmente 30% da ração animal. “Vamos mensurar o quanto é efetiva em relação ao tamanho do peixe e ao tempo para abate, além da influência no sabor”, adianta o empreendedor, policial militar licenciado para se dedicar ao projeto de piscicultura, em lugar de criar porcos e galinhas.
Na propriedade de 9,7 hectares, quase dez campos de futebol, o objetivo é implantar aeradores para oxigenar os tanques e triplicar a produtividade, sem desmatar mais áreas. O projeto requer tecnologia solar para operar os equipamentos, porque a instabilidade da energia elétrica da cidade, gerada em usina à diesel, gera riscos com perdas por mortalidade de peixes. “Há impactos nos custos, também porque o combustível é mais caro nos períodos longos de seca, devido às mudanças climáticas do planeta”, justifica Silva, formado em gestão ambiental.
São tambaquis, pirapitingas, curimãs e matrinxãs, a menina dos olhos, comercializada a R$ 25 o quilo para compradores que revendem a R$ 40 no mercado. Hoje são produzidas 19 toneladas de peixe por ano, com meta de acessar o mercado regional. “O lucro pode chegar a 300% após oito meses, no total de R$ 300 mil por ano, mas o propósito é reduzir o custo da alimentação, impactado pela sazonalidade do peixe na natureza e outros fatores”, explica o empreendedor. “O preço alto do peixe, superior da carne bovina, é um incentivo ao desmatamento”, completa Silva.
Ele olha de lado a lado e se emociona com lembranças do pai, já falecido, “um visionário na relação com a floresta”. Após um instante de silêncio, Silva pergunta, com sorriso no canto da boca: “Está ouvindo esse assobio? É ele, feliz com nossos planos de sustentabilidade da floresta”. O imaginário amazônico se mistura aos negócios, com a estratégia de contribuir na conservação ambiental, qualidade de vida e segurança alimentar – sem o sopro do curupira que ameaça punir quem destrói floresta.
“É um caminho sem volta; me chamavam de louco por largar a estabilidade do emprego público e arriscar no novo negócio”, conta. Ele vê um cenário positivo para parcerias e acesso a investimentos, quando o tema é Amazônia: “criar peixe pode ser bastante rentável e ainda ajuda na proteção dos recursos naturais”. A ideia é replicar o modelo adaptado às características da região, diante da disponibilidade de áreas já desmatadas e ociosas ou com pecuária de baixa produtividade.
Com alevinos (peixes juvenis para engorda) doados pela prefeitura, a psicultura reduz a pressão sobre os ambientes naturais e os riscos de conflitos devido à pesca em áreas proibidas. A fronteira tem suas porosidades. “Na cultura da ilegalidade, às vezes induzida pela fome e pela falta de alternativas, a produção da pesca vai para o mercado negro nos países vizinhos – e não para a mesa do consumidor”.