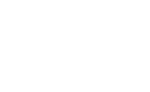Cientistas, artistas, lideranças comunitárias e empreendedores se reuniram em nova edição do webinário Notas Amazônicas para tratar das integrações entre cultura, ciência e conhecimentos tradicionais como forma de enfrentar desafios para o desenvolvimento. Às vésperas da COP 30, a iniciativa reforça que a região deve ser entendida em toda a sua pluralidade
Por Magali Cabral
Desde que foi criada, cinco anos atrás, a rede Uma Concertação pela Amazônia entendeu que não existe uma única Amazônia, mas várias, o que exige múltiplas soluções para estabelecer as rotas de desenvolvimento da região. A fim de enfrentar desafios complexos e interligados – de bioeconomia a sistemas agroalimentares, de transição energética a cultura –, a rede estruturou uma agenda com 12 temas que se conectam entre si. Por exemplo, não há como discutir a transição energética na Amazônia sem dialogar com povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, ou sem considerar questões relacionadas à segurança, ou à saúde. Grosso modo, o que se busca é “costurar” esses conhecimentos em uma abordagem integradora, capaz de gerar sinergias e soluções mais adequadas para as várias Amazônias.
Mostrar como essas conexões costuram-se entre si a partir de diferentes lugares de fala, foi a proposta do webinário Agenda Integrada para as Amazônias: Conexões para Transformar a Região, realizado em 27 de agosto, resultado de uma parceria entre a Concertação e a Página22. Com mediação da gestora de Cultura da Concertação, Fernanda Rennó, participaram cientistas, artistas e pessoas com trajetórias de vida ligadas a algumas das temáticas importantes para o desenvolvimento da Amazônia. “Mais do que entender quais assuntos são centrais, buscamos fortalecer a cooperação entre eles, construindo uma verdadeira rede de saberes”, explica a gestora de Conhecimento da Concertação, Georgia Jordão, na apresentação do evento.
Para dar mais tangibilidade a essas conexões, a Concertação estruturou o estudo Propostas para as Amazônias, um olhar integrado para a agenda de desenvolvimento, que detalha e apresenta interligações com os seguintes temas estruturantes: biodiversidade, bioeconomia, cidades, ciência, tecnologia e inovação (CT&I), cultura, educação, energia, organização territorial e regularização fundiária (OTRF), povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais (PIQCTS), saúde, segurança e sistemas agroalimentares. Os dois volumes deste documento podem ser acessados neste link.
Arte, o lado sensível da integração
Nesses relatórios da Concertação, a artista plástica amazonense Hadna Abreu ilustra o tema da Cultura com a obra Memórias de um Caroço, título que, segundo ela, carrega em si a força de uma semente que guarda histórias, genéticas ou não. “O caroço de açaí, que pulsa o Norte e ganhou o coração do mundo, na minha memória é também casa e se conecta profundamente com a minha ancestralidade”, diz ela. Essa perspectiva dialoga com a proposta da Concertação, que reconhece a cultura como elemento transversal essencial capaz de se conectar a conteúdos técnicos, muitas vezes indiferentes à matéria sensível da arte.
Empreendedora à frente da Manart Galeria, em Manaus, a artista plástica enxerga a arte e a cultura, especialmente na Amazônia, como fios condutores para pensar saúde, educação e bioeconomia. Para ela, assim como o açaí alimenta e fortalece o corpo, a cultura também é fonte de bem-estar, longevidade e qualidade de vida.
“Do artesanato com o caroço, entrelaçamos saberes ancestrais e contemporâneos, formando sujeitos conectados às suas origens e, ao mesmo tempo, preparados para criar, ensinar e renovar a bioeconomia. Minha lembrança do caroço de açaí e da fibra do tucum se mistura à ideia de uma produção criativa, que valoriza quem somos, gera renda de forma sustentável e preserva a cultura amazônica”, relata Hadna Abreu.
A memória familiar e a valorização da cultura tradicional como forma de encontrar respostas para questões contemporâneas relacionadas à saúde, à bioeconomia e à segurança estão presentes também na obra de Laíza Ferreira, artista interdisciplinar, educadora e pesquisadora licenciada em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Autora da colagem Tecnologias Ancestrais, que ilustra o tema PIQCTS no documento da Concertação, ela conta que seu trabalho busca reflorestar o imaginário coletivo a partir da retomada de arquivos históricos.
A obra tem como plano de fundo a reprodução de uma fotografia da paisagem urbana de Belém, registrada no século XIX pelo fotógrafo português Felipe Fidanza. Ao incorporar a imagem em sua criação, Laíza Ferreira explica que busca ressignificá-la, propondo “uma nova contenção histórica, em que povos indígenas e quilombolas são reconhecidos como guardiões da memória viva, preservada e transmitida pela oralidade”. Essa releitura, segundo a artista, confronta a visão original de Fidanza, que os retratava não como sujeitos de saber e resistência, mas como “pessoas racializadas sob um olhar exotificante”.
A memória familiar da artista, com origem no território quilombola de Jambuaçu, em Moju (PA), está representada nas práticas de cultivo de ervas amazônicas em contexto urbano aplicadas sobre a foto de Fidanza.
“Trago o mercado Ver-o-Peso como símbolo de trânsito de conhecimento, circularidade e encantarias, reforçando a ideia de camadas, de fragmentos e fabulações de outros mundos”, comenta Laíza Ferreira, sobre a colagem Tecnologias Ancestrais.
Nesse trabalho, Ferreira conecta arte, memória e ciência, destacando que as expressões culturais dos povos amazônicos são, ao mesmo tempo, ciência, tecnologia e inovação. Práticas como o manejo da pesca e o sistema rotativo de cultivo revelam, segundo ela, “alternativas contracoloniais”, fundamentais para a conservação da sociobiodiversidade.
O ativista sociocultural e especialista em cozinha identitária amazônica, Ed Carlos, conhecido em Belém como Mestre Kiko, também revela um pouco das suas lembranças afetivas. “Minha mãe me contava, sempre com muita alegria, sobre sua primeira casa, construída com palmeiras de açaí. As paredes feitas com os troncos e o telhado, com as folhagens. Ela dizia que era a melhor casa do mundo, por ser dela”. Foi nesse espaço que a matriarca começou a preparar as receitas herdadas de seus antepassados e que foram assimiladas pelo filho.
Hoje, Mestre Kiko atua no Espaço Cultural Ubuntu, em Belém, onde responde pela área de gastronomia. Viaja pelo País regularmente para compartilhar em cooperativas, associações e outras redes o conhecimento em gastronomia afro-indígena amazônica, que tem em sua base a mandioca, ou macaxeira. Em suas falas, procura evidenciar como o sistema agroalimentar se conecta à educação e à cultura.
“Não se pode falar em cultura alimentar amazônica sem citar pratos como tacacá, maniçoba e caruru, todos enraizados na mandioca. Essa diversidade mostra a riqueza cultural do nosso sistema alimentar, profundamente ligado à subsistência e ao coletivo”, afirma Mestre Kiko.
Ciência, o olhar realista dos desafios
A diretora adjunta de Programas no Instituto Igarapé, Laura Waisbich, que estuda o tema da segurança na Amazônia, dá um choque de realidade em sua apresentação no webinário. Ela lembra que, nas últimas décadas, a bacia amazônica tem sido marcada por uma confluência de vulnerabilidades, violências e inseguranças. “Além dos conflitos históricos ligados à terra, à exploração ilegal dos recursos naturais e à fragilidade do Estado, somam-se hoje crimes ambientais em larga escala, degradação institucional, economias ilícitas e violência letal, que atingem de forma desproporcional povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais”, revela.
Segundo ela, as pesquisas do Instituto Igarapé apontam que essas dinâmicas configuram inseguranças multidimensionais, que afetam os setores agroalimentar, energético, jurídico e de cidadania, além de se manifestarem de modos distintos nos territórios e com fortes conexões transnacionais. Nesse contexto, Waisbich destaca que prospera também uma criminalidade ambiental organizada, que articula desmatamento ilegal, grilagem, mineração, extração de madeira, pesca predatória e tráfico de vida silvestre, em convergência com crimes como corrupção, fraude, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, armas e pessoas.
“A geografia da Amazônia, com seus rios e corredores logísticos, torna-se estratégica tanto para fluxos ilícitos como para o escoamento de commodities, apontando desafios e oportunidades para políticas de enfrentamento”, afirma Laura Waisbich.
Em sua opinião, o combate a esse cenário não pode se restringir à repressão pontual. É necessário um esforço multissetorial, multinível e integrado, do local ao global, transformando economias ilícitas em empreendimentos compatíveis com a floresta. Isso inclui aliar comando e controle, cooperação internacional, proteção a defensores ambientais, inteligência financeira, fortalecimento da bioeconomia e finanças verdes, além de políticas de prevenção social e de transição para modelos sustentáveis de desenvolvimento.
Embora os avanços nessa área ainda sejam frágeis, Waisbich acredita que hoje já existe maior maturidade no Estado e da sociedade em relação ao tema. “Não é mais possível varrer o crime ambiental e as inseguranças da Amazônia para debaixo do tapete”, diz.
Para Fernanda Stefani, cofundadora da 100% Amazônia, empresa que atua no campo da bioeconomia e opera em mais de 65 países com um portfólio de mais de 50 produtos da biodiversidade amazônica, situações como a descrita por Waisbich reforçam que não podemos viver em “caixinhas” isoladas umas das outras.
“O ser humano faz parte de algo muito maior e mais complexo, e precisamos aprender a lidar com tantas complexidades. E temos que fazer isso por meio das interconexões com a arte, a saúde, e sobretudo com o conhecimento ancestral”, aponta Fernanda Stefani.
Stefani define a sociobioeconomia como um modelo econômico que subverte o jeito tradicional de pensar negócios – aquele em que alguém compra um produto ou serviço, usa e descarta, sempre na lógica do menor custo para o consumidor e do maior lucro para o vendedor. “Nesse processo, quase nunca se considera o que está em volta, como a origem do produto, os impactos da produção, o desmatamento, ou a desvalorização dos saberes tradicionais”, afirma.
Na bioeconomia, a lógica é diferente. Segundo ela, a 100% Amazônia, em parceria com comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas e agricultores familiares, em vez de olhar apenas para a economia ou para setores industriais específicos, escolheu olhar para o território e sempre perguntar o que determinada comunidade pode oferecer.
“Foi a partir desse conceito que a empresa foi estruturada. Foi assim que, além dos alimentos, criamos também um projeto com mulheres artesãs que produziam pulseiras de caroço de açaí”, conta a empresária, que chegou ao Pará pela primeira vez levada por uma multinacional que queria desenvolver uma cadeia de açaí. “Acabei sendo picada pelo gosto, pelo cheiro e principalmente pelas oportunidades que a gente vê aqui na Amazônia. Fiquei e cofundei a Amazônia 100%”.
Assim como Stefani, a médica psiquiatra Érika Pellegrino também “foi ao Pará, parou, tomou açaí e ficou”, como dizem na região. Ao escolher o município de Altamira (PA) para viver e trabalhar, ela transformou sua trajetória profissional em compromisso com as comunidades da região. “Às vezes brinco que me tornei médica especialista em logística”, conta, lembrando que, para chegar a algumas localidades, é preciso saber calcular a quantidade de combustível necessária e conhecer o tempo de viagem conforme o regime das cheias dos rios.
Segundo seu relato, Altamira, maior município do Brasil, localizado na bacia do Rio Xingu, concentra uma sociobiodiversidade singular, devido à sobreposição de impactos históricos das últimas décadas: da abertura da Transamazônica à construção da hidrelétrica de Belo Monte. Pellegrino menciona também os impactos provenientes da expansão da soja na região, da ameaça de projetos de mineração, como o da canadense Belo Sun, e do desafio da mudança climática. “Esses fatores – diz a médica – atingem diretamente o modo de vida das populações tradicionais e da população urbana”.
Pellegrino chegou ao território para acompanhar os efeitos da instalação da Usina de Belo Monte sobre a saúde mental das famílias deslocadas. “Vim escutar o sofrimento das pessoas que tiveram seu modo de vida interrompido”, lembra. Essa experiência a mobilizou a permanecer na região, atuando em duas frentes: na organização Sama – Health in Harmony, que apoia soluções de saúde desenhadas pelas próprias comunidades, e na Universidade Federal do Pará (UFPA), onde colabora na formação de médicos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e de outras comunidades tradicionais.
Na área da saúde, o desafio central da região, segundo ela, está no acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS). Para quem vive em áreas remotas, o atendimento deixa de ser gratuito quando se consideram os custos de transporte, estadia e perda da produção agrícola durante o deslocamento. Por isso, as comunidades já propuseram a criação de um fundo de saúde comunitário, alimentado por parte da renda da bioeconomia local.
Na UFPA, Pellegrino defende a ampliação das políticas públicas de processo seletivo especial das comunidades tradicionais, não só as indígenas e quilombolas. Ela informa que a universidade inaugurou recentemente um ambulatório de povos indígenas e comunidades tradicionais em Altamira, um espaço que serve tanto ao atendimento de saúde como à formação prática dos futuros médicos.
“O que buscamos é formar médicos da Amazônia para a Amazônia”, resume Érika Pellegrino.
COP 30, do coração da floresta para o mundo
A escolha de Belém como sede da COP 30 é vista pelo conjunto dos participantes do webinário como uma oportunidade única de colocar a Amazônia no centro das negociações climáticas globais. Por estar no coração da floresta, o evento submeterá os negociadores ao “calor” local, facilitando a exposição tanto das contradições e dos desafios como das potencialidades da região.
Além disso, a conferência ampliará a visibilidade de diferentes vozes locais – governos, setor privado, sociedade civil, povos indígenas, comunidades tradicionais, periferias urbanas e juventudes – que, juntas, oferecem conhecimento e inovação para enfrentar a crise climática. O enfrentamento ao crime ambiental coloca-se como solução essencial para o cumprimento das metas brasileiras e para demonstrar ao mundo a capacidade e a vontade política de avançar.
Mais do que denunciar desigualdades, Belém precisa, segundo os convidados do webinário, apontar caminhos para o desenvolvimento sustentável compatíveis com a floresta, que conciliem conservação ambiental, produção econômica e valorização cultural.